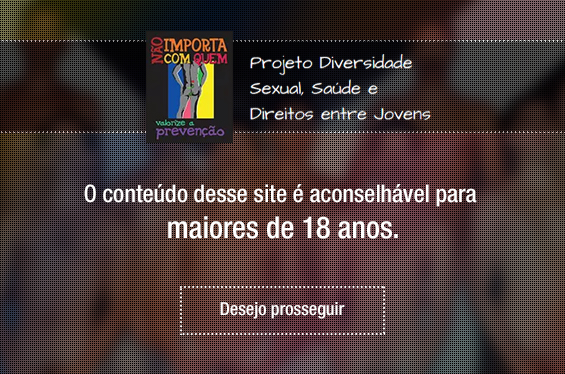No ano em que se comemoram os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, os 40 anos da Declaração de Alma-Ata, que estabeleceu a atenção primária como a prioridade em saúde, e os 25 anos da Convenção de Viena para os Direitos Humanos, questões sobre a aplicação prática destas importantes declarações são levantadas. Entender como estes temas gerais se aproximam do cotidiano de populações vulneráveis e de suas questões em saúde foi o tema de discussão de uma mesa do 12º Congresso de Saúde Pública Brasileira (Abrascão), realizado na Fiocruz.
A mesa “Saúde Global, vulnerabilidades e direitos humanos: perspectivas críticas e desafios práticos”, aconteceu no último dia do evento (domingo, 29/07) foi coordenada pela professora Miriam Ventura da Silva, do Instituto de Estudos da Saúde Coletiva (IESC-UFRJ) e reuniu professores referência nos estudos críticos da Saúde Global para pensar as implicações das disputas em curso do nível global ao pessoal, tendo em comum a perspectiva dos direitos humanos.
As falas partiram do nível histórico da Saúde Global ao interpessoal, da relação profissionais e pacientes, passando pela questão da judicialização do acesso à saúde. Ainda assim, as dificuldades e limitações de se discutir temas como esses no momento em que vivemos foram lembradas. “Nós estamos em um congresso dedicado à Marielle, nós estamos em uma tenda nomeada Marielle Franco, alguém que ao buscar direitos, ao buscar igualdade, foi covardemente metralhada”, lamentou o expositor José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
Para os pesquisadores presentes, os direitos humanos não são suficientes, mas necessários. “Há uma dimensão de confronto e luta política que é inevitável”, defendeu Ayres. “Mas essa luta política perde seu sentido emancipatório se nós não temos uma referência do comum. E qual a referência mais potente do comum nós temos hoje nos campos das práticas concretas, das práticas políticas institucionais, interpessoais, do que a referência dos direitos e dos direitos humanos?”, questiona. Para ele, “direitos humanos não são pressupostos, mas horizontes”.
 Da medicina tropical à saúde global: As mudanças de paradigmas e o histórico do campo hoje conhecido como Saúde Global foi tema da fala de Richard Parker, antropólogo e professor visitante de Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc/UFRJ). “A medicina tropical surgiu em meados do século 19 e foi fundamentalmente moldada pelo momento histórico e as relações geopolíticas que existiam nessa época, tendo surgido com o colonialismo e a construção dos impérios europeus”, explicou o professor. Segundo ele, este movimento, que buscava a contenção das epidemias, não tinha preocupação com a saúde dos povos indígenas, mas sim dos colonizadores, em segundo plano, de sua mão-de-obra.
Da medicina tropical à saúde global: As mudanças de paradigmas e o histórico do campo hoje conhecido como Saúde Global foi tema da fala de Richard Parker, antropólogo e professor visitante de Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc/UFRJ). “A medicina tropical surgiu em meados do século 19 e foi fundamentalmente moldada pelo momento histórico e as relações geopolíticas que existiam nessa época, tendo surgido com o colonialismo e a construção dos impérios europeus”, explicou o professor. Segundo ele, este movimento, que buscava a contenção das epidemias, não tinha preocupação com a saúde dos povos indígenas, mas sim dos colonizadores, em segundo plano, de sua mão-de-obra.
Esses sistemas ainda persistem de alguma forma, mas em meados do século 20 surgiu um novo movimento que começou a ser chamado de Saúde Internacional. “A Segunda Guerra Mundial foi fundamental nessa nova construção e foi a nova ordem mundial que moldou as estruturas, as instituições, as práticas e pensamentos dentro desta fase a partir de 1948”, explanou Parker, lembrando a data de criação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta instituição, assim como outras agências da Organização das Nações Unidas (ONU), passa a ter um papel fundamental na governança da Saúde Internacional. Com o fim da Guerra Fria, na década de 1990, novamente a ordem mundial sofre alterações e o termo Saúde Global começa a ser usado para definir a arena internacional da saúde.
Para Parker, essa nova configuração trouxe consigo muitas promessas, como uma maior interação, horizontalidade e colaboração entre os atores, inclusive os do sul global. No entanto, quase duas décadas depois, essas promessas anunciadas não foram cumpridas e os país emergentes continuam sem voz, enquanto a governança global foi privatizada pelas grandes fundações ligadas à responsabilidade social de empresas. É o caso da Fundação Bill and Melinda Gates, que hoje é o maior doador individual da OMS. “Continuamos com um sistema de governança global praticamente igual ao que tínhamos na Saúde Internacional. É o que no marketing se chama ´rebranding´: mudar o rótulo para vender o mesmo produto”, opinou.
Esta perspectiva, no entanto, não é um consenso. Para Célia Almeida, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP-Fiocruz) presente no evento, a área de diplomacia em saúde e da Saúde Global ainda carece de conceitos claros e de uma teoria robusta. Célia, no entanto, vê reconfigurações importantes nos anos 1990 que explicam a mudança na designação de Saúde Internacional para Saúde Global. Entre as mudanças, ela cita a maior interação entre o global e o nacional, com o aprofundamento do processo de globalização, a entrada da saúde como um elemento da política externa nos anos 1990 e também o crescimento do neoliberalismo, até como uma reação à Alma-Ata.
Nesse momento, atores transnacionais, como fundações e empresas, começam a desempenhar um papel maior nas decisões internacionais da saúde. Além disso, a saúde passou a ser usada também com fins geopolíticos. Foi o caso da AIDS em países africanos, em que já foi demonstrado que a ajuda enviada não atendeu necessariamente à necessidade de cada país.
Para o professor de Princeton João Guilherme Biehl, não se pode deixar de notar essas alterações, mas é preciso questionar o quanto isso justifica uma mudança de nome ou paradigma. Ele chama atenção para o novo termo que vem sendo usado pela Fundação Rockfeller: “Saúde Planetária”, que designaria uma ideia de saúde interespécies. “Seria esse um novo ‘rebranding’? Seria o uso deste novo termo uma ação politizante ou despolitizante? Onde fica a dimensão social? ”, questiona.
Judicialização como ferramenta legítima de garantia de direitos: Muitas vezes criticada em jornais e até mesmo entre militantes e pesquisadores da área da saúde pública, a prática de recorrer a tribunais para acessar tratamentos e medicamentos, conhecida como judicialização, é um recurso cada vez mais utilizado por pacientes. Este processo acaba por desequilibrar o orçamento da saúde, tirando o foco da atenção primária para colocá-lo na ‘farmaceuticalização’ e no acesso a medicamentos, argumentam os que condenam a disseminação da prática. Biehl discorda. Após realizar um estudo sobre pacientes que recorrem à justiça, o antropólogo concluiu que, ao contrário do que diz o movimento anti-judicialização, a grande maioria dos litigantes são pobres e idosos que buscam medicamentos de baixo custo e já previstos pelo SUS, ou seja, que já deveriam estar à sua disposição.
“A judicialização é parte da vida democrática do Brasil hoje”, defende o pesquisador, explicando que esta foi a maneira encontrada por pacientes e defensores dos direitos humanos de responsabilizar o Estado por sua ineficiência em garantir um direito constitucional. Biehl, que é uma referência nos estudos críticos da Saúde Global, reconhece que o foco da saúde pública deveria ser a atenção primária, no entanto, a partir do momento que o Estado falha neste ponto, é injusto negar a pacientes o tratamento que precisam para viver com mais dignidade.
“Legalismo mágico”, “hospital jurídico” e “tecnologias legais” foram alguns dos termos usados por advogados e juízes para descrever o que fazem nesses casos. Já o professor de Princeton vê neste processo o que chama de uma “inovação tecnopolítica” que teve início com a luta contra a Aids, nos anos 1990. Pacientes HIV positivos foram os primeiros a recorrer à justiça alegando o direito constitucional à saúde ao demandar o coquetel de medicamentos que precisavam, com alto custo na época. A sua vitória abriu caminho para que nossos grupos vissem na Justiça uma saída para receber tratamentos. As recentes lutas em prol da legalização do aborto são apontadas como outro exemplo de como as leis e os tribunais são vistos hoje como um campo legítimo e importante de reconhecimento dos direitos humanos.
Do global ao interpessoal: Mas como chegar às pessoas? Como trazer esse referencial dos direitos humanos para o plano interpessoal das relações entre profissionais e pacientes? Essa foram as preocupações trazidas por Ayres, que encerrou as falas dos expositores. Ele defende que o trabalho em saúde é sempre relacional e que é necessário buscar um novo equilíbrio na relação médico-pacientes. Na relação atual, os saberes tecnocientíficos dos profissionais se sobrepõem aos saberes práticos dos pacientes. Ayres propõe a intersubjetividade, em que ambos os saberes tenham o mesmo peso, em uma troca mais equilibrada.
Ele concorda com seus colegas ao afirmar que precisamos de pactuações em nível global e advocacy no plano nacional. Ele defende ainda que são necessários acordos práticos no nível interpessoal, com decisões complexas e não moralistas sendo tomadas a partir do diálogo que tem como os direitos humanos um recurso necessário, ainda que insuficiente. Para isso, ele propõe pensar na ação comunicativa, que deve recuperar a dimensão narrativa do paciente e não apenas a argumentativa dos profissionais. “Razão e comunicação não são dados, mas conquistados”, defende.
Mais do que fornecer arcabouços teóricos para essa mudança, o pesquisador advoga por novas práticas que se façam presentes na formação de novos médicos e profissionais, incorporando elementos não-tecnocientíficos. Como exemplo, ele cita a inclusão de visitas de campo para conhecer territórios e famílias no começo do curso de medicina onde leciona. “É impressionante o impacto que isso está tendo neles”, ressaltando que os relatos dos alunos demonstram que essa experiência modifica a visão que eles tinham sobre atenção primária.
Fonte: Abrasco
Fotos: George Magaraia/Abrasco