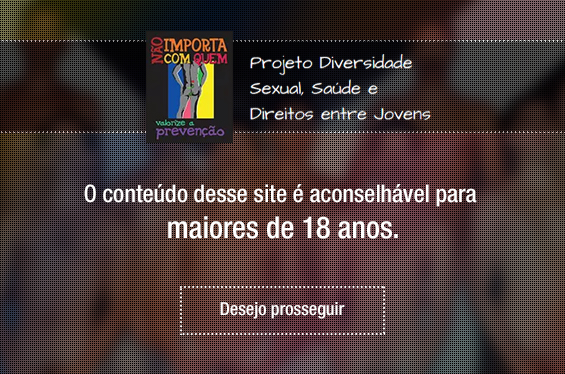A carioca Vivian Miranda é a única brasileira em um projeto com a Nasa que desenvolve de um foguete avaliado em US$ 3,5 bilhões (R$ 13 bilhões). É também a primeira transexual a fazer pós-doutorado em astrofísica na Universidade do Arizona, onde estuda atualmente.
Vivian passou a usar roupas e acessórios femininos gradativamente e a partir de 2016: um dia um batom, outro dia um par de brincos. Até mudar de nome. Na época, fazia o pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia – sim, ela fez dois pós docs. Um ano depois, foi conversar com o chefe do departamento de física, onde estudava, sobre sua identidade de gênero. “Falei que queria mudar meu nome e usar o banheiro feminino. Ele disse que não tinha problema algum e que iria providenciar a sinalização adequada e discretamente conversar com meus colegas de trabalho”, conta Vivian.
A astrofísica compara a visão das universidades americanas com o assunto à maneira como se fala do tema da identidade de gênero no Brasil – chamado de “ideologia” e de “doutrinação ideológica” pelo presidente Jair Bolsonaro. “Há o discurso de que a academia brasileira é ideologizada, de que lidar com transexualidade e abrir caminho para pesquisadores e professoras trans é uma patologia brasileira. A maneira como fui tratada nos Estados Unidos mostra que o respeitar pessoas trans é só uma questão de civilização.”
Leia o relato de Vivian à Universa:
“Fiz a graduação e o mestrado em física na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) de 2003 a 2010. Na época, ainda me chamava Vinicius. Não é um problema para mim falar do meu nome de registro. Tenho muito orgulho do que fiz como Vinicius; mas esse tempo passou.
Hoje me chamo Vivian, sou pesquisadora do departamento de astrofísica da Universidade do Arizona, e única brasileira em um projeto com a Nasa para construção de um satélite. Ele se chama WFirst, tem previsão de lançamento para 2025 e deve ficar cinco anos no espaço, em um ponto localizado atrás da Lua, capturando imagens. Eu faço estudos que simulam como o satélite pode ter mais potencial de descobertas. Integro um grupo de pesquisa liderado pelo físico Adam Riess, ganhador do Nobel de 2011.
Desde criança eu tinha consciência de que queria mudar de gênero.
Não lembro o que disse exatamente, mas foi algo do tipo “pare de pensar assim e vá rezar”. Passei anos me sentindo culpada por causa disso.
Durante a transição: “brincos e, às vezes, um batom” .
Guardei esse segredo comigo a vida toda. Adulta, tinha meu plano: queria transicionar depois que acabasse o doutorado. Não fiz antes porque o programa de estudos era muito difícil, eu vivia em condições de estresse e de competição altíssimos. Eu não tinha energias para defender uma tese e mudar de gênero. Se minha produção fosse prejudicada, eu estaria fora do ramo. Mas não aguentei, o sofrimento era grande demais, e fiz antes de terminar, no último ano, aos 28 anos. Até essa idade eu sofri muito, foram várias sequelas. Tive depressão e compulsão alimentar.
Em 2016, comecei minha transição social gradual. Primeiro nos arredores de casa, expandindo pouco a pouco para meu bairro. Eu ia devagar, com roupas neutras e maquiagem leve. Às vezes um batom. Tudo planejado. No trabalho eu chegava com uma maquiagem leve, deixava as pessoas olharem e depois ficava alguns dias sem maquiagem nenhuma. Aí usava um brinco, tudo com delicadeza e cuidado.
Minha abertura para a academia como um todo também ocorreu em dezembro de 2017, numa séria de e-mails para colaboradores e alunos mais próximos. O diretor do departamento de física da Universidade da Pensilvânia, quando soube, colocou cartazes nos banheiros dizendo que cada um usaria o sanitário de acordo com sua autoidentificação.
Todos me apoiaram, desejaram felicidades na nova caminhada e continuaram a conversar e a trabalhar comigo normalmente. Ninguém jamais ousou opinar sobre a velocidade e a intensidade da minha transição. Esta era uma decisão pessoal e o papel deles era respeitar minha identidade gênero. Em junho de 2018, seis meses após minha abertura para academia, eu já era tratada como Vivian 100% do tempo, sem qualquer erro ou deslize.
Em agosto do ano passado, a decana de ciências exatas da Universidade de Chicago me chamou para uma conversa e perguntou por que eu não me senti confortável para transicionar durante meu doutorado, quando estudava lá, entre 2010 e 2015.
Ela também queria saber como a universidade poderia atrair mais pessoas transexuais talentosas.
“Colegas no Brasil me deixaram desconfortável”
No Brasil, tudo foi mais difícil. Os pesquisadores com os quais trabalhava ficaram muito surpresos e externaram esse sentimento de um modo que me deixou desconfortável. Hoje em dia todos me apoiam abertamente, mas é importante enfatizar a diferença do tratamento inicial com relação ao que ocorreu nos Estados Unidos.
Muitos deles opinaram sobre a velocidade e a intensidade da minha transição. Alguns chamaram meu processo de radical, algo que ninguém nos EUA ousou falar. E disseram explicitamente que isso poderia prejudicar minhas chances de passar em concurso porque “machismo existe”. Jamais alguém nos Estados Unidos me desencorajou usando este tipo de argumento.
Fiz concursos em universidades brasileiras e meu nome social não foi respeitado nos documentos. Em um deles, a banca até tentou me chamar de Vivian na hora da entrevista, louvável, mas tudo foi tratado com amadorismo e uma falta de leveza desconcertante. Eu lembro que a secretária anotou em pedaços de papel “chamar Vinicius de Vivian” na frente de todos os outros candidatos. Nos e-mails do concurso: Vinicius. No Diário Oficial: Vinicius novamente. Foi horrível.
Em fevereiro de 2019 eu participei de um concurso para a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e o tratamento foi o oposto. Eu fui entrevistada por mais de vinte professores, mas apenas uma única pessoa do RH tinha acesso ao meu nome de registro. Para todos os efeitos, o nome da candidata era Vivian Miranda e ponto final.
Fonte: Universa