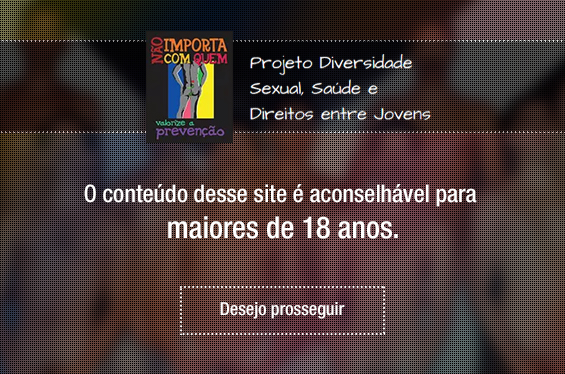Sou do interior do Espírito Santo e minha mãe não fez ultrassom ou pré-natal durante a gravidez. Por isso, meus pais descobriram que eu era intersexual no momento do parto – ou seja, nasci com os órgãos e sistemas reprodutivos de ambos os sexos bem formados, incluindo vagina, pênis, útero, ovário e testículos. Meu cariótipo é 46,XX/46,XY, um caso raro de ambiguidade genital, em que todos os órgãos sexuais são funcionais. Mas como o masculino era mais protuberante, os médicos me consideraram menino. Fui registrada como Luiz de Freitas e criada como garoto pela minha família. Considero que tive sorte de ter nascido numa cidade tão pequena, pois se o hospital tivesse estrutura, meus pais teriam escolhido fazer uma cirurgia para retirar meus órgãos femininos, o que teria sido uma mutilação. Na época, o local mais próximo onde esse tipo de operação poderia ser feito era em Belo Horizonte, e minha família não tinha condições de bancar. Cresci com todos em casa falando que eu tinha uma deficiência, que precisava de tratamento. Na infância, lembro-me de minha mãe me levar ao médico regularmente e de eu estar sempre tomando medicamentos – hoje entendo que era terapia hormonal para que me parecesse mais com o sexo masculino; tinha muita cara de menino.
Sou do interior do Espírito Santo e minha mãe não fez ultrassom ou pré-natal durante a gravidez. Por isso, meus pais descobriram que eu era intersexual no momento do parto – ou seja, nasci com os órgãos e sistemas reprodutivos de ambos os sexos bem formados, incluindo vagina, pênis, útero, ovário e testículos. Meu cariótipo é 46,XX/46,XY, um caso raro de ambiguidade genital, em que todos os órgãos sexuais são funcionais. Mas como o masculino era mais protuberante, os médicos me consideraram menino. Fui registrada como Luiz de Freitas e criada como garoto pela minha família. Considero que tive sorte de ter nascido numa cidade tão pequena, pois se o hospital tivesse estrutura, meus pais teriam escolhido fazer uma cirurgia para retirar meus órgãos femininos, o que teria sido uma mutilação. Na época, o local mais próximo onde esse tipo de operação poderia ser feito era em Belo Horizonte, e minha família não tinha condições de bancar. Cresci com todos em casa falando que eu tinha uma deficiência, que precisava de tratamento. Na infância, lembro-me de minha mãe me levar ao médico regularmente e de eu estar sempre tomando medicamentos – hoje entendo que era terapia hormonal para que me parecesse mais com o sexo masculino; tinha muita cara de menino.
A primeira vez que usei batom foi mais ou menos aos 7 anos; peguei um nas coisas da minha mãe. Foi nesse momento em que percebi que era mulher. E também quando começou a humilhação na escola: me chamavam de viadinho. Em casa não era melhor: quando me viu de vestido, aos 8 anos, meu pai me espancou com uma mão de pilão. Outro grande trauma foi minha primeira menstruação. Tinha uns 9 anos, fiquei completamente perdida. Morava num sítio e passei o dia inteiro num rio, com medo. Quando cheguei em casa, falei com a minha mãe, achava que estava doente. Ela me disse que aquilo ia acontecer todo mês porque eu tinha problemas. Mesmo com a menstruação, ela não entendia que eu era menina. Usar absorvente era muito desconfortável, pois tinha pênis e testículos, que apesar de serem mais internos e menores do que o tamanho normal, atrapalhavam muito. Eu urinava pelo pênis, que cresceu conforme fui entrando na puberdade – ele chegava a 17 centímetros quando ereto.
Conforme fui crescendo e entendendo quem eu era, a situação em casa só piorava. A gota d’água foi quando meu pai chegou bêbado e começou a disparar tiros em minha direção. Minha mãe então me ajudou a fugir para Belo Horizonte para viver com parentes. Eu tinha 12 anos e meu tio me colocou no seminário. Lá, sofri todo tipo de preconceito. Era xingada, bulinada… Tratavam-me como uma aberração. Nessa época, conheci um amigo da família que considero ser um anjo em minha vida. Quando decidi escapar dos padres, foi quem procurei para pedir socorro. Era um homem conhecido na política, que se arriscou para ajudar uma criança de 13 anos a fugir dos responsáveis: me deu dinheiro e me colocou num ônibus para Ribeirão Preto [interior de São Paulo], onde existia uma ONG que acolhia pessoas trans. Nessa época, larguei a escola e, tendo sido criada como menino, comecei a fazer minha transição para o sexo feminino: me tornei Luiza. Foi tudo sem acompanhamento médico, o que considero um dos maiores erros da minha vida. Comecei a terapia de hormônios por conta própria, com ajuda de mulheres trans com quem vivia. Fiz diversas intervenções estéticas, desde colocar megahair até injetar silicone industrial no quadril, nos seios e no rosto para ter traços e curvas mais femininas. Hoje tenho certeza que vou morrer disso. Já tive diversas necroses e passo por pelo menos duas cirurgias anuais por causa do silicone, que ainda não foi completamente drenado do meu corpo.
Por todas essas intervenções, pagava com dinheiro que consegui me prostituindo. Foi o que fiz para sobreviver. Tinham dois homens ricos, usineiros da região, que gostavam de sair com meninas trans bem novinhas, e um deles basicamente bancava minha vida. Eu não era garota de programa como as outras, o cara com quem ficava era basicamente um amante. Mas não queria aquela vida, então fui procurar trabalho. Abordei uma dupla sertaneja que passava pela cidade, contei minha história e eles me chamaram para ajudar na produção de seus shows em Goiânia. Aceitei na hora. Sabia que me pagavam menos por ser trans – até hoje brigo por salários que não foram honrados. Mas era o que eu tinha como trabalho, e eles, de um jeito ou de outro, me ajudaram. Logo fui chamada para viajar o Brasil com a banda. Ainda era menor de idade, tinha 17 anos, e precisava de autorização dos meus pais. Sem dinheiro, peguei carona de Goiás até o Espírito Santo. Naquele ponto, minha família já havia me dado como morta. Quando apareci na porta de casa, minha mãe não me reconheceu. Me ‘apresentei’ e ela ficou toda feliz e emocionada em me ver. Pediu até para que ficasse, mas sabia que ela não me aceitava como eu era.
Naquela época, me considerava pansexual: transei com homens e mulheres cis e trans, fossem gays0, bissexuais, lésbicas. Mas sempre tive preferência por homens cis. Na verdade, gostar de alguém era sempre uma decepção já que meus relacionamentos geralmente acabavam quando chegava a hora de ir para cama. Perdi a conta de quantos fugiram. Quando tinha uns 20 anos, estava em Belo Horizonte e decidi fazer uma tatuagem. Fui a um estúdio itinerante de um artista que viajava numa van pelo Brasil. Gostei dele de cara, conversamos e antes de ficarmos contei para ele que era intersexual. Um tempo depois, me mudei para o Rio de Janeiro para ficarmos juntos. Estava apaixonada. Apesar de ele ter me assumido como namorada, apresentado para família e amigos, não gostava que eu contasse para os outros que era trans e intersexual. Foi meu relacionamento mais duradouro, passamos seis anos como um casal. Nesse período, voltei a estudar, terminei o ensino médio e fiz faculdade de jornalismo. Foi também quando engravidei pela primeira vez, sem querer. Meu namorado já tinha um filho e uma relação complicada com a ex, e não queria saber de ser pai de novo. Já eu achava que não poderia engravidar porque os médicos diziam que meu útero era muito pequeno. Estava em êxtase, ser mãe sempre fora um sonho para mim, mesmo que distante ou inatingível. No quarto mês de gravidez, no entanto, tive um sangramento forte e perdi o bebê.
Acabei me separando do meu namorado e, quase aos 30 anos, abri uma pequena clínica de estética em Jundiaí com o dinheiro que havia juntado, enquanto também trabalhava como assessora de imprensa de vários grupos de rap. Estabilizada financeiramente, o desejo de ser mãe voltou. Decidi fazer estimulação ovariana e consegui engravidar de um homem com quem saía na época. De novo, perdi. Os médicos me diziam que nunca poderia ser mãe. Como nunca havia ouvido falar de uma mulher como eu que tivesse engravidado, acreditei. Além do mais, tomei hormônios por anos sem acompanhamento. Sabia que podia engravidar, mas achava que meu corpo não conseguiria segurar uma gestação até o fim.
A terapia hormonal para manter minhas características femininas sempre foi um processo cheio de sintomas e efeitos colaterais: dores no corpo, de cabeça, inchaço, oscilação de peso. Cheguei a pesar 130 quilos por conta dos remédios. Aos 33 anos, quando comecei a sentir dores no corpo, mal-estar e enjoos, achei que estava gripada ou precisando de ajuste nos medicamentos. Quando fui ao médico, o susto: grávida de novo. Estava num momento importante da carreira, com um grande projeto, no começo de um relacionamento. Ter filhos já nem passava mais pela cabeça. Saí do consultório contente, mas bem cautelosa por conta dos abortos que já tinha tido. Algumas semanas depois, veio um sangramento muito intenso, o pior que eu já tivera. Pensei na hora: perdi o bebê. Marquei uma consulta com a certeza de que ia precisar de uma curetagem, pois já estava no terceiro mês de gravidez. No ultrassom, a surpresa: um coraçãozinho batendo forte e saudável. Foi um milagre.
Um dos grandes problemas que tive que enfrentar durante a gravidez foi o preconceito por eu ser intersexual. Até o nascimento de minha filha, nunca tinha pedido a retificação do meu nome. No RG ainda era Luiz. Imagina um homem chegar como paciente para uma consulta de pré-natal, um ultrassom gestacional? Ninguém entendia e me tratavam como se eu estivesse errada, louca. Sentia-me como um bandido que roubara a identidade de outra pessoa. Os médicos me olhavam diferente porque acho que nunca haviam visto uma grávida como eu. Uma enfermeira achou um absurdo quando me viu. Os próprios médicos não sabiam muito bem como lidar, onde fazer o corte da cesariana. Pensei em processar o hospital, mas desisti. Não queria colocar o emprego de ninguém em risco. Além do mais, havia realizado meu sonho de ser mãe. Até onde sei, no Brasil, sou a única mulher trans e intersexual que teve um bebê biológico.
Foi só depois do nascimento de Rihanna, minha filha, em 2012, que fui pedir a retificação do meu nome e a alteração de todos os meus documentos: identidade, título de eleitor, carteira de trabalho etc. Tive que conseguir uma ordem judicial para poder ser registrada como mãe de Rihanna. Alguns meses depois, também decidi fazer a cirurgia para retirada dos meus órgãos masculinos. Como a urina saía pelo meu pênis, o canal teve de ser redirecionado, o que me causa infecções urinárias a cada dois meses. Mas tenho a sorte de poder ter feito essa escolha, muito diferente de outras pessoas como eu que são operadas logo depois que nascem. Por isso, hoje milito a favor dos direitos dos intersexuais e das pessoas trans, para que os pais e a sociedade aprendam como lidar, para que essas pessoas tenham seus direitos resguardados desde o nascimento. Acho que o preconceito vem da pouca informação, não sempre por maldade. Percebi a necessidade de agir não só nas redes sociais, contando minha história e apoiando as que escuto, mas também na política. Por isso, recentemente, me filiei a um partido e pretendo lançar candidatura como deputada estadual para atuar em favor da comunidade. Meu grande sonho é ter uma ONG que apoie a causa. Quero poder mudar a vida dessas pessoas. E sei que vou conseguir.”
Fonte: Marie Claire