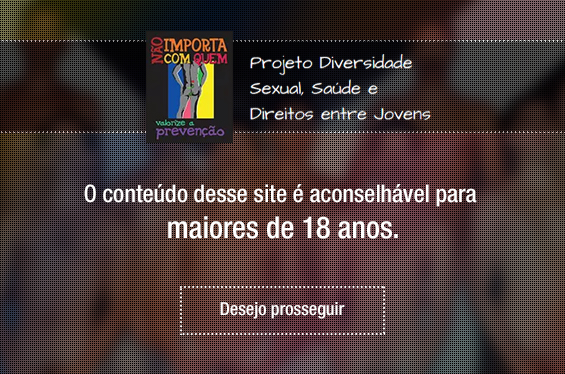Pelo menos 288 pessoas trans estão inscritas em listas de espera para cirurgias envolvendo transição de gênero nos cinco hospitais habilitados pelo SUS que oferecem estes tipos de procedimentos na rede pública de saúde. Os números foram calculados com base nas respostas das instituições obtidas pelo G1 por meio da Lei de Acesso à Informação e pelas assessorias de imprensa.
Pelo menos 288 pessoas trans estão inscritas em listas de espera para cirurgias envolvendo transição de gênero nos cinco hospitais habilitados pelo SUS que oferecem estes tipos de procedimentos na rede pública de saúde. Os números foram calculados com base nas respostas das instituições obtidas pelo G1 por meio da Lei de Acesso à Informação e pelas assessorias de imprensa.
O Processo Transexualizador, no SUS, foi criado em 18 de agosto de 2008, a partir de uma portaria do Ministério da Saúde. Dez anos depois, no entanto, médicos ouvidos pelo G1 relatam que as equipes ainda são reduzidas e que não há profissionais suficientes para aumentar o número de cirurgias por mês. Em geral, a média é de apenas uma ou duas cirurgias por mês em cada instituição. Parte dos médicos diz ainda que o número de hospitais que fazem as operações precisa aumentar para um paciente não ter de viajar, por exemplo, de Feira de Santana (BA), para fazer o procedimento em Porto Alegre (RS).
“As pacientes e os pacientes fazem dois anos [de acompanhamento] e estão prontos [para a cirurgia], mas não adianta eles estarem prontos porque a gente não consegue dar vazão. A gente não consegue fazer quatro, seis cirurgias por mês, mas só uma cirurgia. Esse é o problema. Se a gente tivesse duas ou três equipes, eles não precisariam esperar tanto”, diz a ginecologista Mariluza Terra, que trabalha há 19 anos com a saúde da população trans no Hospital das Clínicas da UFG, em Goiás.
Nos últimos dez anos, o governo federal pagou 474 procedimentos cirúrgicos a transgêneros.
Isso não significa, porém, que 474 pessoas trans foram operadas desde 2008 na rede pública. A cirurgia de redesignação sexual (que adequa a genitália ao gênero da pessoa), por exemplo, costuma exigir mais de um procedimento. Essa operação é considerada “o maior sonho” da maioria das mulheres trans que recorrem aos hospitais públicos, embora nem todas queiram necessariamente fazer mudanças irreversíveis no corpo.
Ou seja, depois de 10 anos, há apenas cinco unidades habilitadas pelo SUS e que oferecem as cirurgias. Elas estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife e Rio Grande do Sul. A unidade mais recente é o HC de Recife, que está habilitado pelo SUS desde outubro de 2014 e ainda é a única instituição no Nordeste. Não há unidade na Região Norte.
Há, porém, atendimentos ambulatoriais a pessoas trans em hospitais de outras capitais. Essas unidades oferecem, por exemplo, acompanhamento psicológico e endocrinológico ao público. Seis estão credenciadas pelo SUS e outras 18 iniciativas funcionam por iniciativa do governo estadual ou municipal. Dessas 18, sete estão no estado de São Paulo.
Apenas três unidades no Brasil fazem acompanhamento preventivo, com foco em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Uma das unidades está na capital de São Paulo; outra, em Campinas; e a terceira, em Porto Alegre.
Unidades hospitalares
Dos cinco hospitais habilitados pelo SUS que fazem as cirurgias em transgêneros, os dados do Ministério da Saúde mostram que, nos últimos 10 anos, 153 procedimentos foram realizados no Hospital das Clínicas de Porto Alegre; 118 no HC da Faculdade de Medicina da USP; 88 no HC da UFG, em Goiás; 68 no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio; e 47 no HC de UFPE, em Recife.
O chefe do serviço de urologia do HC de Porto Alegre, Tiago Elias Rosito, afirma que o número de cirurgias no hospital deve ser ainda maior que o informado pelo Ministério da Saúde. Ele conta que a instituição faz, no mínimo, duas operações por mês – sempre em uma mulher trans e em um homem trans. O público atendido é “o mais variável possível”, com diferentes idades e níveis socioeconômicos. Em agosto, por exemplo, a equipe operou uma mulher trans de quase 60 anos.
O hospital opera mulheres transexuais desde o fim da década de 1990, quando o Conselho Federal de Medicina autorizou e criou regras para o procedimento no Brasil. O texto publicado em 1997 diz que um transexual deve obedecer a alguns critérios (“desconforto com o sexo anatômico natural” e “desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto”, por exemplo) e, para a cirurgia, ter o mínimo de 21 anos.
O procedimento, porém, só foi incorporado ao SUS em 2008, o que permitiu que o número de cirurgias aumentasse ao longo dos anos. “Nós operávamos aqui no HC baseado num convênio que tínhamos com a Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Isso muito antes de o SUS cobrir esse tipo de procedimento, e está aí o nosso pioneirismo”, afirma Rosito, cirurgião-chefe do Programa de Transtorno de Identidade de Gênero do HC de Porto Alegre.
A primeira cirurgia no país, porém, ocorreu em 1971 pelo cirurgião Roberto Farina. Ele chegou a ser condenado, porém, cinco anos depois por fazer o procedimento. Farina também fez a primeira cirurgia em um homem transexual no Brasil – o paciente foi o psicólogo e escritor João Nery, autor do livro “Viagem solitária – memórias de um transexual 30 anos depois”.
Já a primeira cirurgia de redesignação sexual na rede pública no Brasil foi realizada em 1998, no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. Na época, o procedimento só foi possível após a resolução 1482/97 do Conselho Federal de Medicina. A primeira mulher trans a ser operada pela rede pública de saúde foi Bianca Magro, em 1998.
“É um alívio. É o alívio de você olhar para baixo e não ver nada. Então você olhar e não ver e se sentir inteira é um complemento. Não para ninguém. Não para o homem. É um complemento para mim como mulher. (…) Foi uma luta porque era ilegal no país, não tinha uma legislação. Eu tive que entrar na Justiça com todos os meus laudos provando que eu era [transexual] para ter autorização para fazer a primeira cirurgia”, disse Bianca, em entrevista ao Fantástico, em março de 2017.
Cirurgias desejadas
A redesignação sexual masculina (cirurgia que transforma o pênis e os testículos em uma vagina) é o procedimento mais procurado pelos pacientes que participam do Processo Transexualizador do SUS. Também foi a primeira cirurgia para trans a ser oferecida pelo SUS. No levantamento do Ministério da Saúde, essa operação consta também como a cirurgia mais frequente nos últimos 10 anos. Foram 415 procedimentos (87,6% do total).
Segundo Tiago Elias Rosito, a técnica “padrão-ouro”, ou seja, a técnica “mais testada e mais comprovada” é a inversão peniana. A vagina é construída a partir do pênis; e o clitóris, a partir da glande (cabeça do pênis). Rosito diz que a técnica evoluiu nos últimos 50, 60 anos e que é a técnica mais usada no mundo para esse tipo de cirurgia. O procedimento é de alta complexidade.
A ginecologista Mariluza Terra, do HC da UFG, lembra que, após a redesignação sexual, a mulher trans precisa fazer a dilatação para o canal vaginal ganhar profundidade e elasticidade. Segundo Mariluza, essa etapa é “extremamente dolorosa” e as pacientes “são preparadas para isso”.
“Se elas não dilatam, a vagina fica curta, não fica flexível ou elástica. E, se não dilatar mesmo, ela fecha totalmente. É serviço perdido. Isso é avisado antes do processo”, afirma.
Quando a paciente não segue todas as recomendações dos médicos, como a dilatação do canal vaginal, ela pode ter complicações depois da cirurgia. No livro “O nascimento de Joicy”, por exemplo, a jornalista Fabiana Moraes acompanha uma mulher trans que passa pela transição de gênero e faz a cirurgia de redesignação sexual.
Ela enfrenta, porém, complicações no pós-operatório, e a situação fica ainda mais difícil porque ela morava no município de Alagoinha, uma pequena e pobre cidade no interior de Pernambuco, a mais de 200 km de Recife – onde fazia o procedimento e o acompanhamento pós-operatório.
A segunda cirurgia mais comum, de acordo com os números do Ministério da Saúde, é a plástica mamária reconstrutiva bilateral, incluindo prótese mamária de silicone. O procedimento é feito em mulheres trans. No total, foram 23 procedimentos (4,9% do total). A maioria foi em São Paulo (14), seguido por Porto Alegre (7), Rio de Janeiro (1) e Recife (1).
O levantamento mostra ainda que houve 18 cirurgias de retirada do útero, dos ovários e da vagina (histerectomia com anexectomia bilateral e colpectomia). Foram 9 operações em Porto Alegre, 5 no Rio de Janeiro e 4 em São Paulo. A portaria do Ministério da Saúde que passou a oferecer o procedimento para homens trans é de novembro de 2013. Ou seja, completa 5 anos daqui a três meses.
A retirada das mamas (mastectomia simples bilateral), também oferecida para homens trans, foi mais frequentes nos hospitais de Recife (7), São Paulo (4), Rio de Janeiro (3), Porto Alegre (2). Somadas as operações desse tipo, foram 16 cirurgias.
O procedimento chamado de tireoplastia (redução do pomo de adão para feminilizar a voz e alongar as cordas vocais), para mulheres trans, foi feito apenas duas vezes, segundo o Ministério da Saúde. Ambas as vezes no HC da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo.
Nem sempre a pessoa trans deseja fazer cirurgias na genitália – o que acontece, principalmente, no caso de homens trans. O ativista trans Buck Angel, por exemplo, prefere ser identificado como “um homem com uma vagina”. Ele é um homem trans, mas não fez a cirurgia de redesignação sexual. Buck Angel esteve no Brasil para a 1ª edição da Conferência Internacional [SSEX BBOX], que discute gênero e temas LGBTs, em novembro de 2015, em São Paulo.
Desde junho deste ano, a transexualidade não está mais na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo a entidade, a transexualidade passa a integrar como “incongruência de gênero” a categoria denominada “condições relativas à saúde sexual”.
Fila para cirurgia pelo SUS
Das 288 pessoas trans que estão na lista de espera para fazer uma cirurgia, 80 estão na fila do HC da FMUSP; 70 na fila do HC da UFPE; 70 na fila do HUPE; 50 na fila do HC de Porto Alegre; e 18 na fila do HC de Goiânia. Os dados foram enviados pela Lei de Acesso à Informação (RJ, GO e RS) e por assessorias de imprensa (PE e SP).
Todos os médicos ouvidos pelo G1 dizem que, para atender a toda a demanda, a equipe precisa de reforços. Em Goiânia, por exemplo, a ginecologista Mariluza Terra conta que há apenas um profissional de cada especialidade. Recentemente, diz Mariluza, um ginecologista que era dedicado exclusivamente para o atendimento da população de transexuais e travestis deixou a equipe.
A ginecologista afirma ainda que, para tentar reduzir a fila de espera, tem organizado mutirões, com médicos de outros setores. Assim, conta a médica, em 5 de maio deste ano, foi realizada uma série de cirurgias de redesignação complementar (para retoques, correções). Os pacientes atendidos na instituição são, principalmente, do próprio estado.
“É doloroso a pessoa se olhar no espelho e não reconhecer aquele corpo como sendo dele ou dela. É uma dor intensa, diária, de 24 horas, e ninguém imagina isso. Só a gente realmente que está trabalhando há tanto tempo que consegue identificar e mensurar o tamanho dessa dor. A gente precisava sensibilizar mais médicos para trabalhar com essa população e aliviar um pouco essa dor”, diz Mariluza.
A sensibilização de outros profissionais também é uma das tarefas assumidas pelo ginecologista José Carlos de Lima, do Hospital das Clínicas da UFPE. No momento, conta o médico, cinco profissionais estão em treinamento e devem formar uma nova equipe. Apesar disso, ele reconhece que parte dos médicos não se envolve por causa da “formação pessoal e familiar” ou por questões religiosas e culturais.
“Há um estigma infelizmente muito grande. No HC, a gente tem de trabalhar essa questão desde o profissional da portaria até o cirurgião e o clínico que vão acompanhar o paciente para que não ocorra nenhum tipo de constrangimento. A gente pretende trabalhar o hospital como um hospital amigo nessa questão da transexualização”, diz Lima.
Para o psiquiatra Miguel Chalub, o baixo número de cirurgias por mês no Hospital Universitário Pedro Ernesto também cria um “verdadeiro engarrafamento”, com pacientes que se queixam, vão à Ouvidoria e até recorrem à Justiça para pedir o procedimento. Chalub estima que acompanha cerca de 100 transexuais e que, dentre os pacientes, muitos são da região Nordeste e de Minas Gerais.
O psiquiatra ainda afirma que a maioria não tem condições financeiras para pagar as cirurgias e que, por isso, permanece na lista de espera. Ele conta que parte dos pacientes transexuais foi expulsa de casa e chegou a morar na rua, além de ter enfrentado discriminação e dificuldades amorosas.
“Outros começam a juntar dinheiro para fazer particular. Não é muito frequente porque a população em geral é de classe média baixa ou pobre. A cirurgia custa uns R$ 40 mil, 45 mil, então as pessoas não têm condições de fazer e ficam aguardando chegar a vez na cirurgia”, diz Chalub.
“É um problema de saúde pública. Nós precisamos de mais centros no país. Nós aqui já alcançamos a nossa capacidade de novos procedimentos. E o nosso grande objetivo é capacitar outros centros. Ou seja, ensinar todo o manejo dessas pessoas. A questão psicológica, a questão hormonal, a questão cirúrgica. Para que a gente não precise, como no mês passado, que uma pessoa venha de Feira de Santana, na Bahia, para operar em Porto Alegre”, afirma Tiago Elias Rosito.
Em nota, o Ministério da Saúde diz que a contratação de profissionais “está sob a responsabilidade dos gestores locais de saúde” e que “não há orientação específica para a exclusividade desses profissionais no atendimento à população trans”. O ministério também afirma ainda que criou um curso online sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT e que destinará R$ 10 milhões para uma pesquisa científica feita pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira – Hospital Albert Einstein durante dois anos, até 2020.
“Para garantir mais qualidade nos cuidados e na segurança aos usuários do processo transexualizador, é necessário estudar os impactos na saúde dessas pessoas, considerando o caráter irreversível da cirurgia de redesignação sexual e os efeitos do uso de hormônios, por exemplo. Por isso, a importância da pesquisa sobre a segurança e os protocolos de atendimentos, bem como os critérios para a habilitação e a exclusão dos procedimentos”, diz a nota.
‘Transfobia internalizada’
A atriz e professora Laysa Machado, de 47 anos, passou a se identificar como mulher depois que trocou Guarapuava por Curitiba, municípios separados por 250 km, ambos no Paraná. Lá a recém-formada em história se viu distante da família, já empregada e com maior autonomia. Procurou o Hospital das Clínicas, onde encontrou um médico que a ajudou nas etapas para adequar seu corpo ao gênero com o qual já se identificava.
“Eu tinha uma transfobia internalizada muito forte, muito intensa. Por isso, fiz a transição só aos 25 anos. Fui segurando essa vontade e esse desejo que não passavam nunca. Aos 25 anos, quando entrei em depressão, eu sabia que só tinha dois caminhos: ou me matava ou me assumia. E aí eu me assumi como trans. E rapidamente fui mandada embora dos dois empregos que eu tinha. Fiquei sem trabalho”, lembra.
Laysa conta que esperou para tomar a atitude porque sofria repressão da família em casa e morava numa cidade que considera “extremamente religiosa, conservadora, tradicional”. Na infância, ela chegou a ser coroinha da igreja e também interpretou o papel de Jesus numa peça do teatro. Já na universidade os colegas a consideravam um “homem ‘cis’ do tipo gay discreto”.
Quando começou a sua transição de gênero, em meados de 1996, Laysa diz que não encontrou muitas opções na rede pública. Acabou tirando do próprio bolso o dinheiro para o terapia hormonal e as cirurgias. Não tinha dinheiro suficiente para fazer a redesignação sexual na Tailândia e acabou fazendo o procedimento no Brasil. A atriz e professora estima ter gastado R$ 50 ou R$ 60 mil na época. O dinheiro veio da venda de dois imóveis e um carro, os únicos bens de Laysa.
Para ajudar outras pessoas trans, Laysa criou há um ano um canal do YouTube chamado “Coisa da Laysa”. Os vídeos falam, principalmente, sobre experiências pessoais como mulher trans e assuntos ou termos do mundo LGBT.
“Às vezes as pessoas vinham na ‘inbox’ das minhas redes sociais me perguntar, com dúvidas. Às vezes eu achava que eram dúvidas que eu já tinha superado. Mas aí eu comecei a lembrar que, quando eu iniciei o processo, essas dúvidas que pareciam tão ínfimas, tão pequenas, não eram naquela época para mim. E faltam pessoas para informar e ser sincera. Queria que fosse uma pessoa trans falando para pessoas trans e que fez uma cirurgia.”
Laysa não é a única a criar um canal do YouTube para dar visibilidade à temática trans. Um dos canais de sucesso, com cerca de 100 mil inscritos, por exemplo, é do jovem Ariel Mordara. Ele conta um pouco sobre a vida dele e sobre suas experiências como homem transexual. Outro canal feito por trans se chama “Thiessita”, da youtuber Thiessa Woinbackk, com mais de 500 mil inscritos.
Conquistas pela via judicial
Para o ativista trans Kaio Lemos, a trajetória para buscar atendimento e cirurgias na rede pública ainda é “complicada e burocrática”, “com muitos preconceitos” e com “falta de conhecimento sobre a transexualidade”. Lemos não teve boas experiências no ambulatório do Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza, e reclama também de “situações constrangedoras”.
O mestrando em antropologia pela UFC acabou, depois de um ano de tratamento, recorrendo à Justiça para fazer os procedimentos de que precisava. Primeiro, conseguiu que o SUS pagasse um endocrinologista, já que o serviço especializado para o público não era oferecido no estado. Depois, ganhou também o direito de receber gratuitamente os hormônios.
“São processos dificultosos. Se você não tem profissional [médico], você não tem receita. Se não tem receita, eu não posso me hormonizar. É preciso levar receita com carimbo, CPF, CID, informando que é transexual e que a hormonioterapia é importante”, diz.
Nos últimos meses, Lemos ainda fez três viagens a Recife pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para conseguir um relatório psicológico, o último documento necessário para realizar a sua última conquista: a retirada das mamas (mastectomia bilateral total). Foi o segundo procedimento do tipo em homem trans no Hospital das Clínicas de Fortaleza. Agora, o ativista trans se sente melhor com o seu corpo e não precisa mais usar o binder – faixa que aperta os seios, reduzindo o volume na roupa.
Ao G1, a instituição diz que está trabalhando para futuramente ser habilitado pelo Ministério da Saúde na modalidade cirúrgica do processo transexualizador.
Sem acompanhamento médico
É consenso entre os médicos que os pacientes trans procuram a rede pública já tomando hormônios sem o acompanhamento médico. Em alguns casos, as pessoas já apresentam problemas de saúde, após procurarem orientação de pessoas não habilitadas e comprarem os medicamentos de forma ilegal, sem receita ou pela internet. Eles contam que isso ocorre porque nem todos conseguem acesso ao tratamento ambulatorial e também porque “eles se sentem aprisionadas no corpo do sexo oposto”.
A Anvisa lembra que “a venda [de hormônios] pela internet ou em feiras livres é considerada crime”. “Os hormônios são medicamentos controlados e só podem ser vendidos em estabelecimentos farmacêuticos devidamente habilitados mediante retenção de receita médica”, diz a nota.
O médico José Carlos de Lima, do HC da UFPE, afirma que o uso de hormônios sem acompanhamento acarreta uma série de riscos, principalmente se envolver doses elevadas. Segundo Lima, já houve, inclusive, paciente que estivesse tomando hormônios utilizados na medicina veterinária, e não na medicina para humanos. “Muitas vezes, em busca de resultado mais imediato, eles [os pacientes] fazem uso de doses muito elevadas, o que é muito preocupante. Recebemos pacientes que estão usando diversos hormônios em doses elevadas com o objetivo de ter um efeito mais imediato”, afirma.
Já Mariluza Terra, do HC da UFG, lembra que o uso de hormônios tem efeitos colaterais e exigem acompanhamento médico. O hormônio masculino, por exemplo, interfere no comportamento da pessoa e pode causar irritação. Sem acompanhamento, de acordo com a médica, o paciente ainda corre risco de ter doença hepática e doença renal, além de ter risco de doenças cardiovasculares. Já o uso de hormônio feminino, segundo Mariluza, pode causar a trombose venosa profunda, levando à embolia pulmonar, ou mesmo ao AVC ou à morte, além do risco de doença hepática.
Lima afirma ainda que há pacientes chegam ao consultório já com sequelas ou deformidades de cirurgias feitas em locais precários, sem condições higiênicas ou substâncias antissépticas, de forma clandestina. Ele cita, por exemplo, o uso de injeção de silicone líquido por mulheres trans que desejam aumentar as mamas ou preencher os glúteos.
“O silicone, quando injetado em nível vascular, dentro de um vaso, dentro de uma artéria, pode levar à embolia ou à morte. Como se acredita que vários casos tenham ocorrido com esse tipo de prática indiscriminada. Por exemplo, a pessoa injetou nos glúteos e foi parar no tornozelo. Com isso, [o procedimento] causou deformidades, inclusive.”
Acompanhamento preventivo
Para Alexandre Saadeh, o atendimento e os serviços para transgêneros na rede pública de saúde são focados, principalmente, no público adulto. Saadeh começou a trabalhar com a população trans em 1997 e, na época, atendia transgêneros e travestis adultos. Atualmente, o médico acompanha crianças e adolescentes de 3 a 17 anos que são levados ao ambulatório de São Paulo pelos pais por algum conflito de gênero. Esse público não necessariamente é composto por transexuais.
“Para adultos, o acompanhamento é reparador. Você tenta diminuir os problemas que a pessoa já tem. Com as crianças e os adolescentes, o acompanhamento é preventivo, é para evitar essas coisas. São duas propostas bem distintas”, diz o coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria da USP.
Ele acrescenta que os pacientes são levados à instituição pelos pais e que a maioria ainda não começou a transição de gênero. O público é, principalmente, de crianças e adolescentes nascidos com o gênero biológico masculino. Mas há uma lista de espera com 160 crianças e adolescentes.
O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar que engloba profissionais de serviço social, fonoaudiologia, psiquiatria, psicologia, entre outros. O bloqueio de hormônios é uma das opções durante a puberdade do paciente, já que a hormonioterapia só pode começar depois dos 16 anos, ainda como projeto de pesquisa. Na maioria dos ambulatórios, porém, a idade mínima para o tratamento hormonal é 18 anos. Segundo Saadeh, nem todos os pacientes se percebem transexuais. Há, por exemplo, adolescentes que não se identificam com o gênero feminino nem com o masculino – chamados de não-binários.
“Há crianças que circulam, que transicionam de um para outro, muitas se definem, algumas não. Tem de tudo que a gente acompanha. Em adolescente é muito comum o gênero não-binário. Na maior parte dos trabalhos de fora e a percepção que a gente tem é que na vida adulta o gênero não-binário, fluido some para uma definição de homem ou mulher, desaparece. Parece mais que é mais uma vivência transicional, de experiência antes de uma definição”, afirma Saadeh.
Por outro lado, mesmo nas unidades ambulatoriais, é comum que as unidades façam uma triagem dos pacientes porque não têm capacidade de atender a todas as demandas. Pela Lei de Acesso à Informação, por exemplo, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio, informa que “a fila para a inclusão de novos pacientes para a primeira consulta se encontra fechada”. Não é o único caso. O atendimento para novos pacientes também já chegou a ser interrompido no HC da UFG, em Goiás, de novembro de 2012 a março de 2016.
Fonte: G1