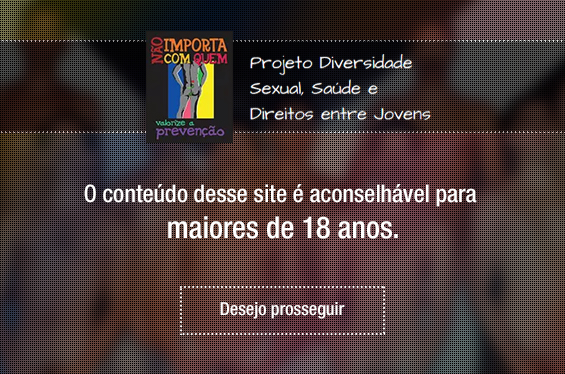Yudi Santos aceitou ir para a emergência com o avô. Estava se revirando em cólicas e com hormônios em descontrole. Chegou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entregou os documentos e fez um pedido: “me chama pelo nome social.” Ele sentou e esperou. Uma hora depois, o painel acendeu. Estava lá o nome civil. A recepção lotada olhou. “Parecia que nada do que eu tivesse sentindo era maior do que a dor de ser desrespeitado. Baixei a cabeça e caminhei até a sala do médico. Parecia estar entrando numa jaula de animais ferozes.”
Yudi sempre preferiu se automedicar. O medo dele é o de muitos transexuais: ser desrespeitado em sua identidade de gênero. No Brasil, a população trans tem um histórico de invisibilidade dentro do sistema de saúde. O “boom” dos casos de aids, na década de 1980, colocou essas pessoas num lugar estigmatizado e afastou a maior parte delas dos serviços.Em matéria de saúde, quase não há pesquisa sobre o tema, tão forte é a exclusão. Uma das poucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), diz que 43% da população trans evita procurar atendimentos de saúde.
Há uma década, depois da pressão dos movimentos sociais, essa história começou a mudar. Bastaram dois dias: 18 e 19 de agosto de 2008. E duas portarias do Ministério da Saúde: 1.707 e 457. O processo transexualizador passou a existir no Sistema Único (SUS). Com ele, o reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero como determinantes da situação de saúde.
“Essa primeira portaria trazia uma discussão sobre a responsabilidade do SUS diante do cuidado com a população trans, para que ela pudesse realizar as adequações corporais”, explica a psicóloga e coordenadora do Espaço Trans do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), Suzana Livadias.
A primeira versão dessa quebra de paradigma foi comedida. Um tipo de cirurgia, a redesignação sexual de mulheres transexuais, e quatro hospitais em todo o país. A procura surpreendeu e o tema caiu na boca do povo. Mas o processo transexualizador ficou sintetizado, no imaginário popular, às mudanças genitais. E às filas que levam a uma espera de mais de 10 anos. Só que essa espera não é apenas para mudar o órgão sexual. E a mudança do órgão sexual não traduz o processo transexualizador. Há outra face mais profunda.
Em novembro de 2013, a portaria 2.803 redefiniu e ampliou o processo no SUS. Era chegada a vez de travestis e homens trans. Foram incluídas a hormonoterapia e cirurgias como a mastectomia (retirada dos seios) e histerectomia (retirada do útero). Houve a criação dos centros ambulatoriais, para fazer o acompanhamento pré e pós-operatório. A saúde trans passou a ser pensada de maneira integral.
O Brasil realiza uma média de uma cirurgia de redesignação a cada oito dias. Nesse intervalo de tempo, faz 56 consultas ambulatoriais. “O processo transexualizador marca a garantia do acesso à saúde, das diferenças humanas, da necessidade de cuidar de uma população que, em função da sua exclusão, estava sofrendo agravos”, explica Suzana Livadias.
A transição com ajuda profissional
Cada vez em que saía do seu quarto, Yudi Santos baixava a cabeça. Em frente à porta, um espelho de corpo inteiro refletia uma imagem que ele não queria ver. Yudi tinha uma compreensão de si que aquele pedaço de vidro instalado na parede não captava. Era uma época em que ele tomava até quatro anticoncepcionais por dia, para frear os sinais de feminilidade no corpo. “Eu olhava e pensava: não quero isso para mim.”
Yudi fazia o que a maioria costumava fazer: tomar hormônios por conta própria para promover mudanças corporais. Vivia com ânsia de vômito e tinha desmaios repentinos. Escondia tudo para não parar numa emergência hospitalar, com medo do preconceito. Não é para menos, um em cada dez brasileiros já sofreu discriminação nos serviços de saúde. A discriminação aumenta em seis vezes a frequência com que trans evitam esses lugares.
“Antes, a gente ia na farmácia, comprava o anticoncepcional e tomava. Então, mudava de forma agressiva e começava a ter problemas de saúde, como doenças cardiovasculares”, diz a presidente da Articulação e Movimento para as Travestis e Transexuais de Pernambuco (Amotrans-PE), Chopelly Santos.
De todos as pessoas transexuais e travestis atendidas no ambulatório recifense LGBT Patrícia Gomes, 77% confessa já ter feito automedicação de hormônios. Sessenta e cinco por cento, de técnicas estéticas de mudança do corpo não legalizadas. Caso do uso do silicone industrial, que aumenta o risco de embolia pulmonar e insuficiência renal aguda.
O processo transexualizador trouxe a chance de fazer a transição com ajuda profissional e evitar esses danos. Mesmo limitado a cinco hospitais credenciados para a cirurgia e cinco para acompanhamento ambulatorial. Num país com 28 estados, 5,5 mil municípios e 207 milhões de pessoas, há mais demanda do que oferta.
Por isso, Yudi só começou a hormonoterapia há um ano. Ele que desde a infância já buscava referências masculinas. Que sempre preferia representar o gênero masculino nas brincadeiras. Que aceitou o apelido Yudi dos amigos sem reclamar. Que aos 18 anos se compreendeu como homem transexual, mas só pode se olhar no espelho e ver o que gostaria aos 25 anos.
Há seis meses, ele decidiu erguer o olhar. Encontrou no reflexo um rapaz de 1,75 metro de altura. Pele negra, cabelo crespo castanho escuro, raspado nas laterais. Bochechas desenhadas por marcas de espinhas que começam a ser escondidas por pelos de uma barba em desenvolvimento. Yudi agora toca no próprio rosto com carinho, parece que a cada momento quer conferir se é realidade. Todas as vezes em que visita a mãe, faz questão de passar e parar por minutos na frente do espelho que no passado era motivo de vergonha.
Rede ambulatorial para enxergar a saúde integral da população trans
A casa de ladrilhos marrons e grades enferrujadas da Rua Pedro de Paula Rocha passou por poucas modificações. Há uma placa colorida na fachada, algumas cadeiras plásticas e um birô na sala. Para onde se olha, cartazes pregados na parede anunciam uma campanha governamental contra o preconceito. A mensagem é simples. Não faz diferença saber a orientação sexual e a identidade de gênero de quem vai atender.
Yudi sai de uma das duas salas que ainda parecem improvisadas. Há oito meses, assumiu o cargo de assessor de assuntos políticos LGBT de Camaragibe. A missão era fundar o Ambulatório Darlen Gasparelle. O último a ser aberto em Pernambuco, o primeiro fora do Recife. Para Yudi, estar lá é um ato político e de solidariedade.
Esses locais se transformaram na principal porta de entrada de usuários trans aos serviços de saúde e expandiram a consciência do SUS. A população trans adoece como qualquer outra e nem sempre quer hormônio e cirurgia. “Hormonizar é uma consequência, existe um antes e um depois”, diz o enfermeiro criador do Espaço Trans Identidades do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam-UPE), Cristiano Oliveira.
Os ambulatórios são a tábua de salvação para desafogar os serviços hospitalares. Como o HC foi durante muito tempo o único lugar de acolhimento, todo mundo ia para lá. Hoje tem 290 pessoas em acompanhamento sistemático, mas cerca de 340 em espera. “Essa é uma população que historicamente tem sido colocada à margem da saúde pública, então se afastou dela. Com esses serviços ambulatoriais, estamos vivendo o resgate dos vínculos”, diz o coordenador da Política de Atenção Integral à Saúde da População LGBT do Recife, Airles Ribeiro.
Ericka: o processo transexualizador e a inserção no mercado de trabalho
No segundo piso do Hospital das Clínicas, um barbante preso na parede destoa da sequência de portas amarelas separadas por paredes brancas encardidas. Letras coloridas desenhadas à mão sobre o fio formam V-A-R-A-L D-E D-E-P-O-I-M-E-N-T-O-S. Dos oito papéis pendurados abaixo, um deles chama atenção pela simplicidade e força da mensagem. “Xô transfobia”. O papel traz também um texto de nove linhas.
“Me chamo Ericka, sou mulher trans, e tenho uma relação boa com minha família. Essa relação me permitiu estudar e hoje ter um emprego formal. Esse amor me protegeu das ruas.” A mulher alta, de cabelos encaracolados vermelhos e fardada com uma camisa polo azul, passa apressada diante do mural. Diz que volta já. Alguns minutos depois, ressurge com um molho de chaves na mão e convida para uma das salas do andar onde funcionar o Espaço Trans do HC. Começa a contar a história por trás da mensagem.
Ericka Gomes tem 33 anos. Quando era adolescente, estava numa reunião de família e ouviu uma tia disparar na mesa. “Prefiro ter um filho homossexual do que ladrão.” Ericka ainda não tinha transicionado, o que demorou mais alguns anos. O primeiro a perceber as mudanças provocadas pela hormonoterapia foi o pai. “Ele perguntou a minha mãe e ela chegou dizendo: ‘tu já passa o que passa sendo gay, agora vai inventar de ser travesti? Já pensasse no que vai acontecer contigo?”.
O maior medo era a prostituição, com o que trabalham 90% das travestis e transexuais no Brasil, estima a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). Por falta de oportunidade no mercado de trabalho. “Eu disse: vou estudar, vou subverter essa norma. Quero bater em outras portas”, determinou Ericka.
Ela já havia trabalhado de secretária em um escritório e auxiliar de arquivo em um órgão público, antes da transição. Depois disso, o primeiro emprego foi num call center. Não precisava aparecer para os clientes, o que tornou mais fácil a contratação. Quando ela começou a faculdade de contabilidade, os caminhos pela inserção profissional ficam mais tortuosos. Mais de 10 seleções de estágio, nenhuma aprovação. Precisou voltar para o call center e vender roupas. Até que uma amiga pediu o currículo dela para uma vaga de recepcionista.
O documento foi com o nome civil. A amiga corrigiu, podia ir com o nome social. Na seleção, foram 18 pessoas trans. Ericka passou no teste e assumiu a função que exerce há dois anos e três meses: recepcionista do Espaço Trans do HC-UFPE. Naquele corredor impessoal, a mensagem dela é um gesto de afirmação. O trabalho é fazer a ponte entre as pessoas que chegam e o serviço de saúde.
Ericka recebe documentos, organiza material administrativo e repassa aos outros profissionais do setor. Mas o trabalho não se resume a isso. Ericka é a que escuta, a que acolhe e a que provoca identificação e conforto. “São pessoas que chegam sofrendo por todo tipo de violência. Às vezes, me contam coisas que nem no tratamento terapêutico falam.” São 10 horas de trabalho por dia. A rotina é intensa, mas não se queixa. A única lamentação é ainda ser uma das duas únicas transexuais, num universo de 60 pessoas ocupando cargos de recepção no hospital.
Rede pernambucana em expansão
Yudi e Ericka são exemplos de uma rede em ampliação, ainda que de forma tímida. Pernambuco é hoje o estado com mais mecanismos de promoção da saúde da população LGBT no país. Tem coordenação estadual e na capital. Ganhou três espaços ambulatoriais novos nos últimos dois anos. O Trans Identidades, do Cisam; o Patrícia Gomes, do Recife; e o Darlen Gasparelle, de Camaragibe.
E tem também quem queira entrar no circuito. Ipojuca está criando uma política própria. O complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco pleiteia credenciamento junto ao Ministério da Saúde para realizar as cirurgias. Já chegou até a fazer uma, em caráter experimental.
Os avanços em uma década são inegáveis, mas o processo transexualizador descortinou uma demanda que o SUS não esperava. Tudo ainda é pouco. Não é só o HC que tem fila. O Cisam só tem agendamento para novembro. As barreiras para a ramificação da rede são duas: o preconceito entre os profissionais e a falta de corpo técnico especializado.
“A gente ouvia falar, mas não sabia onde estavam essas pessoas. Estamos na capital, mas recebemos gente de Petrolina, Arcoverde, cidades do interior”, conta Cristiano Oliveira, do Cisam. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) tem um inquérito civil aberto. “Cobramos a implantação de alguns serviços que foram abertos, como o do Recife e de Camaragibe, a realização de treinamentos com os profissionais de saúde e padronizações na dispensação de hormônios”, explica a promotora de Defesa da Saúde do Recife, Helena Capela.
A questão, diz ela, é que o trabalho é contínuo. “A meta é a rede funcionar como um todo”, pois os agravos continuam acontecendo. Ainda tem trans longe do sistema de saúde. “A expectativa média de vida de uma pessoa trans é 35 anos, enquanto do resto da população é de mais de 70. Cerca de 60% deles já pensaram em suicídio e 35% tentaram”, elenca a membro do Fórum LGBT de Pernambuco e mãe do projeto Transviver, Regina Guimarães.
O trabalho de formiguinha de fomentar a expansão da rede e romper o preconceito é do estado. “Não adianta só as políticas, a gente só consegue devolver para a população resultados se tiver mão de obra. Por isso, temos trabalhado na sensibilização do profissional para se aproximar das questões epidemiológicas da população LGBT, com capacitações”, explica o coordenador estadual de saúde LGBT, Luiz Valério. Hoje, existe comitê técnico sobre o tema em Serra Talhada e Petrolina. Em Arcoverde e Afogados da Ingazeira, estão em implantação.
O Diario entrevistou duas pessoas transexuais que ainda eram crianças quando o processo transexualizador foi incorporado ao SUS. Eles são símbolo de uma geração que começa a romper os paradigmas do corpo e têm acesso mais fácil às mudanças desejadas. Os dois iniciaram o processo transexualizador no último ano. Perguntados sobre o simbolismo do próprio corpo, responderam:
“Meu corpo é um ato político. É a minha morada, a minha casa. É resistência. Eu ando todos os dias e eu penso que sou resistência. Sou mais uma pessoa trans que anda na rua e tem o privilégio de estar viva no país que mais mata trans e travestis. Não é fácil. Eu falo que tenho constante medo de andar na rua, não vou mentir. Mas eu tô vivendo e é isso”
Gabriel Ventura, 18 anos – estudante de letras
“Meu corpo é um santuário. Me sinto realizada com o meu corpo. Ainda tem coisa que eu quero mudar, obviamente, estou na metade do tratamento hormonal, mas estou dando tempo ao tempo. Começar a amar o nosso corpo é algo maravilhoso. Começar a se olhar no espelho esse agradar com as mudanças acontecendo é surreal. Eu não sabia que isso existia”
Joana Casotti, 21 anos – estudante de arquitetura
Fonte: Diário de Pernambuco