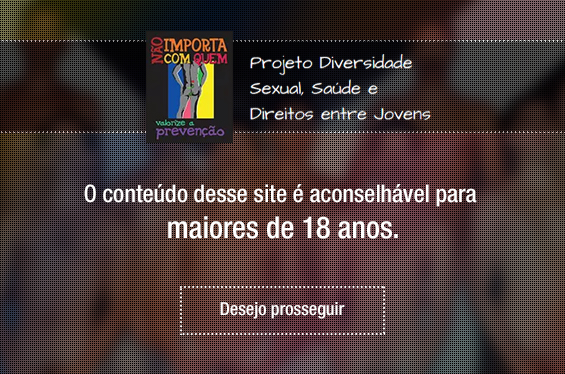Era raro um avião sobrevoar a pequena cidade de Ceres, no interior de Goiás. Quando acontecia, a pequena Maria Luiza da Silva corria para o quintal de casa e erguia o olhar para o céu. Muito criativa, a menina construía suas próprias aeronaves de latão, madeira e papelão. Também adorava soltar pipa. Maria Luiza nasceu no corpo de um menino, José Carlos, em 20 de julho de 1960, mesmo dia do aniversário de Santos Dumont, patrono da aviação brasileira. Apesar de sentir-se mulher “desde sempre”, viveu socialmente como um homem por boa parte da vida. Com a maioridade e a obrigação do serviço militar, a decisão de alistar-se à Força Aérea Brasileira (FAB) foi um passo óbvio e, durante 22 anos, exerceu de modo exemplar —com várias medalhas e diplomas de reconhecimento— sua função como mecânica de aviação. No hangar em que trabalhava, os 300 militares eram homens. Tudo mudou em 1998, quando Maria Luiza comunicou aos seus superiores sua identidade de gênero e tornou-se a primeira pessoa transexual das Forças Armadas do Brasil, sendo submetida a uma aposentadoria forçada por sua condição, dois anos depois. O laudo da junta médica da FAB a reconheceu como “incapaz, definitivamente, para o serviço militar”, mas “não inválido, incapacitado total ou permanentemente para qualquer trabalho”.
“Sofri muito, porque eu amo a aviação. Me tirar da Aeronáutica foi como me tirar da minha própria casa. Eu tinha muita esperança de que a Justiça me permitisse voltar a trabalhar por alguns anos ainda”, lamenta Maria Luiza, hoje com 59 anos, em entrevista ao EL PAÍS, com voz tranquila e pausada.
Se não conseguiu voltar aos hangares, Maria Luiza tem, sim, o que comemorar. Depois de uma disputa judicial de quase duas décadas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu, no dia 23 de maio, que ela sofreu discriminação e confirmou seu direito de permanecer no imóvel funcional em Brasília até que seja implementada sua aposentadoria integral referente ao último posto da carreira militar no quadro de praças. Embora ela tenha sido compulsoriamente afastada do serviço militar como cabo, deve receber a aposentadoria de subtenente, uma vez que o ministro Herman Benjamin entende que lhe foi retirada a oportunidade de progredir na carreira. Cabe um último recurso da União na própria Corte.
“Agora, finalmente, a Justiça está sendo feita. Enquanto esse capítulo não se fechava, ficava revivendo os traumas daquela época, o que não é bom para a cabeça de ninguém. Mas essa decisão não é importante apenas para mim, mas para a justiça social no Brasil”, celebra Maria Luiza. “É um marco na história do Direito brasileiro, principalmente em um momento de recrudescimento do ultraconservadorismo no país”, acrescenta Max Telesca, advogado da militar. Telesca explica que essa é uma jurisprudência importante para outros casos de discriminação, dentro e fora das Forças Armadas.
Antes da vitória agora no STJ, Maria Luiza tentou ser reincorporada à FAB —o que a Justiça não permitiu— e passou a receber apenas o benefício proporcional ao tempo de serviço, o que, segundo ela, representou uma perda de 75% dos seus rendimentos. Uma determinação em segunda instância sobre o caso só veio em 2016, quando a Justiça Federal em Brasília entendeu que “a orientação sexual não pode ser considerada incapacidade definitiva” e anulou a reforma (a aposentadoria nos termos militares) de Maria Luiza. Mas, quando a decisão saiu, ela já tinha mais de 48 anos, idade máxima para atuação no posto de cabo. A Corte, então, determinou que ela recebesse aposentadoria integral —incluindo os reajustes que receberia se tivesse continuado na ativa, chegando a subtenente— e que ela deveria deixar o imóvel funcional de dois quartos onde mora (no Cruzeiro, capital federal), já que as residências são destinadas a militares da ativa. A União entrou com um recurso no STJ e voltou a pagar a aposentaria referente ao salário de cabo. “Eu nunca deixei de ser militar, eles me aposentaram precocemente. Só eu e as pessoas próximas a mim sabemos o que essa batalha me custa, em todos os sentidos”, diz.
Transição na FAB
Maria Luiza começou a transição de gênero na própria FAB. “Alguns médicos fizeram seu papel de médicos e, ao identificar minha transexualidade, prescreveram o tratamento hormonal e reconheceram que não havia transtornos físicos ou mentais que impedissem meu trabalho na ativa. Mas pessoas da área administrativa eram contrárias a isso e, infelizmente, o preconceito prevaleceu. Um comandante deu uma canetada e me reformou”, conta.
O processo médico e administrativo durou dois anos. “Em um primeiro momento, me fizeram tirar a farda e usar roupa civil, isso porque não me deixavam usar o uniforme feminino. Depois, começaram a me dar dispensas médicas, às quais era obrigada a cumprir, pelo regimento”, lembra. Durante esse período, Maria Luzia chegou a ser mandada para o Hospital Militar Central, no Rio de Janeiro, onde ficou confinada durante semanas. Não a deixavam nem mesmo circular pelo local sem um oficial ou entrar em contato com a família. Maria Luiza conta que recebeu ameaças de morte, mas cala quando perguntada sobre outras violências, prefere não falar.
“Me sinto mulher desde que me entendo por gente. Tenho duas irmãs e sempre tive muita identificação com o feminino, me chamavam a atenção as roupas, os acessórios. Eu não gostava das minhas roupas de menino. Esse entendimento se acentuou quando entrei na puberdade. Naquela época, a gente não sabia o que era transexualidade, então, aos 13, 14 anos, fui levada para alguns médicos em Goiânia. A primeira médica percebeu minha identidade de gênero, mas minha família decidiu pedir a opinião de um segundo profissional, que quis reverter esse processo com tratamento hormonal”, relata.
Com uma voz tipicamente feminina, a adolescente também foi submetida —sem ser consultada— a uma cirurgia de raspagem das cordas vocais. “Eu não entendia o que eram hormônios, o que eram esses remédios que me davam, nem a interferência que eles causavam no meu corpo e mente. Mas não tomei por muito tempo, porque, logo nos primeiros meses, apresentei efeitos colaterais. Fiquei muito angustiada, não queria sair de casa. E entendi que não teria liberdade para viver minha identidade de gênero. Acabei guardando isso só para mim e vivenciando, na prática, a existência masculina”, diz Maria Luiza, que não culpa os pais pela situação. “Tive um pai e uma mãe exemplares, que nunca encostaram a mão em mim. Jamais culparia eles, porque era muita falta de informação”.
Na vivência masculina, ela chegou a ser casada por seis anos, matrimônio do qual nasceu uma filha. “Tenho uma relação cordial com minha ex-mulher e minha filha, porque fiz todo esse processo de transição com muito equilíbrio. Nos encontramos, saímos e somos felizes”, diz ela, que prefere preservar a identidade das familiares. Tampouco revela quantos anos sua filha tem ou se é avó.
A militar reformada compartilhou sua história com o cineasta brasiliense Marcelo Díaz, que estreou, no ano passado, o documentário Maria Luiza. Além do relato da própria Maria Luiza, o filme conta com depoimentos de seus advogados, médicos e de ex-colegas que elogiam sua personalidade e profissionalismo na FAB, quando ainda atendia pela identidade de José Carlos. O filme mostra uma Maria Luiza muito católica, com direito a terço pendurado no retrovisor do carro, que vai à missa, tem o hobby de desenhar —o que faz muito bem— e também é apaixonada por carros. “Se eu pudesse, teria uma Ferrari”, ri. Na falta de uma, ela se diverte correndo em um circuito de kart. No primeiro encontro com o diretor, conversaram durante seis horas e construíram uma amizade que já dura 10 anos. “Ela me recebeu de uma maneira muito aberta desde o primeiro momento. Maria Luiza participou de todas as etapas de produção do documentário, ela é praticamente uma coautora”, conta Díaz.
‘Sabia que era a primeira, mas que não seria a última’
Ao lembrar-se da infância no interior, Maria Luiza descreve cada final de ano como “um momento mágico” em sua vida. “Com o Natal, vinha a esperança de ganhar um brinquedo feminino, uma boneca, que nunca vinha. Mas a natureza se encarregava de me dar alguns brinquedos, um deles eram as bonequinhas de milho que eu mesma fazia. A gente plantava e, no fim de ano, colhíamos. Eu cortava o cabelo da espiga de milho, penteava…”, lembra. Ela conta que, apesar de sentir-se sempre mulher, não teve receios no momento de alistar-se à FAB. “Até aquele momento, na minha vida social, eu me apresentava no gênero masculino, e não tinha muitos trejeitos”, diz. “Quando decidi parar de me esconder, essa decisão foi fortalecida por alguns acontecimentos, como o fato de haver mulheres trabalhando nas Forças Armadas. Outras coisas que me incentivaram foram a Constituição Federal de 1988, que garantia igualdade de direitos, e a decisão do Conselho Federal de Medicina autorizava as cirurgias transgenitais no Brasil”, explica.
Hoje, Maria Luiza trabalha “pontualmente” como motorista. Perguntada se voltaria à FAB caso ainda pudesse fazê-lo, ela não hesita ao responder: “Sem dúvida, porque eu amo demais meu trabalho. Esse processo é movido por conta de decisões individuais de alguns militares que me discriminaram, não é um processo contra a instituição. Eu faço parte da instituição, eu sei o que é a FAB e o quanto ela é importante para o Brasil. Vivi muitas glórias lá, tenho muito orgulho de ser militar da Aeronáutica”. Ela conta que, desde que tornou pública sua história, soube de pelo menos outras duas mulheres trans na Marinha e uma no Exército. “Eu sabia que era a primeira, mas que não seria a última. Essas são pessoas que ainda estão lutando pelo seu direito de permanecer na ativa. E o caminho delas também é a Justiça”.
Fonte: El País Brasil