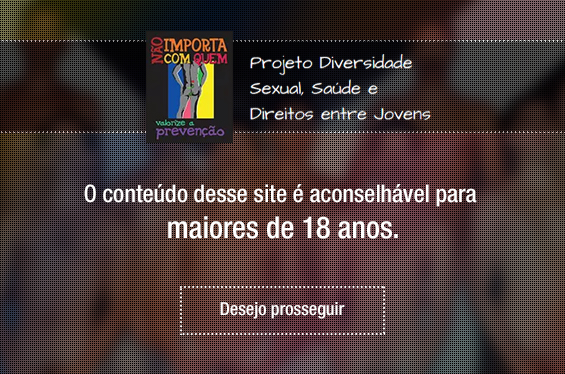O significado de privilégio no dicionário informa: é o indivíduo e/ou a pessoa que usufrui de algum direito, vantagem ou prerrogativa que são válidos apenas para um grupo ou usuário, em detrimento do alcance da maioria. O que fazer com ele são outros 500. Para uns, é a categoria que categoriza o status necessário para se viver certas exclusividades. Sem revisionismos de consciência. Já para outros, é a possibilidade de fazer a diferença a partir da posição que ocupa e olhar para seus pares como forma de se conscientizar que é preciso fazer algo para que todos usufruam dessas mesmas possibilidades.
É buscando ‘fazer o dever de casa’ com consciência, mobilização e atitude que a carioca Julliana Ayres, de 25 anos, de Olaria – zona norte do Rio de Janeiro – busca se colocar em meio aos demais. Ainda que não seja de nenhuma família abastarda, a jovem reconhece que o fato de ser negra, estar perto de favela – mas nunca ter morado em uma – e sempre ter estudado em colégios particulares (no ensino fundamental), que lhe permitiram uma educação acima da média, fez – e continua fazendo – total diferença para trilhar o caminho que escolheu até aqui.
“Eu sempre morei na Zona Norte. Sempre morei em Olaria, minha família também. Eu estudei ali também. Minha vida mudou mesmo, eu acho, depois que eu fui estudar na Tijuca. Porque eu estudava na Penha, morava em Olaria e depois fui pra lá . Eu estudei num colégio que era assim no início de uma favela, do Complexo da Penha, e eu sofria as consequências de estar ali por questões de quando tinha confrontos e não tinha aula. E isso eu realmente não via lá na Tijuca. Foi o meu pai que quis na verdade (que eu fosse fazer esse curso técnico numa escola pública). Por mais que eu esteja na zona norte, por mais que eu seja uma menina negra, eu reconheço os meus privilégios. Eu tenho muitos privilégios: eu estudei a minha vida toda em colégio particular, o meu pai ele era motorista de kombi – na época era muito popular – depois a minha mãe, quando eu entrei na escola, ela foi ser manicure e mesmo os meus pais tendo essas profissões que não são tão valorizadas eu me reconheço como privilegiada. Porque eles faziam um esforço pra me colocar no colégio particular”, conta ela. E completa:
“Minha madrinha dava aula ali (na Penha, na época do fundamental) então eu ia com ela e não precisavam se preocupar com isso. Minha madrinha tomava conta de mim, minha mãe não precisava pagar uma pessoa. Então assim, eu sou muito privilegiada nesse sentido. E isso é uma coisa que é conflitante na minha cabeça. Hoje eu gosto muito de ficar à par dos movimentos sociais, de estar ali, de ouvir as diferentes pessoas, mas ao mesmo tempo eu não me sinto pertencente e inserida de fato a ter voz porque eu não estou, de fato, dentro da favela pra poder falar sobre isso. Então, eu nunca precisei pensar sobre isso (de privilégios). Óbvio que em muitos momentos eu fui uma das poucas pessoas negras da sala. Querendo ou não eu estava num colégio particular. . Eu via que eu era diferente sim em relação as minhas amigas, porque elas eram majoritariamente brancas, e eu não tinha muito contato com pessoas negras. Eram poucas. Só que eu só fui pensar, de fato, nesses privilégios depois que eu entrei na UERJ. Que aí, realmente, eu parei pra pensar em situações sociais mesmo, em etnias, em raças, em tudo. Aí que eu fui ter realmente essa consciência que eu era privilegiada”, enfatiza.
Racismo
Mas não tem dinheiro no mundo que faça você ter uma outra cor de pele. E que, por isso mesmo, consiga te “embranquecer” à ponto de evitar ou não flertar com o racismo. Afinal, ainda que não reconhecesse seus privilégios – e também depois de reconhecê-los – Ayres já sabia que não era como as demais amigas. E sentia o peso de ser diferente. “Total, o tempo todo (sentia o racismo). Só que assim, eu não tinha essa consciência de que eu precisava responder e ficava mais acuada, eu engolia muita coisa e eu não queria ser o que eu era, na verdade. Eu queria ser que nem as minhas amigas: que eram as meninas desejadas na escola, que eram as meninas que poderiam ser quem elas quisessem”.
“A gente brincava muito de ser personagem e na minha época tinha a novela Floribella, RBD e nunca tinha alguém pra mim ser. High School Musical. Então a menina negra do HSM era aquela, tipo, a amiga da protagonista que ficava ali no escanteio, mas eu queria ser a protagonista. Mas eu não podia. E em tudo isso eu percebia o racismo, mas não sabia que tinha esse nome. Eu até tinha vergonha de comentar isso com a minha mãe porque ela ia entender que eu sofria. E pra mim isso era motivo de ‘melhor não levar preocupação pra dentro de casa’, então não tinha com quem conversar sobre isso. E as pessoas negras com quem eu tinha contato que era uma numa série, outra em outra série, não tinham também essa visão. Então a gente simplesmente não falava sobre isso. Mas era muito doído”.
A força para entender todos esses pesares e poder lutar contra eles com resiliência a estudante de Nutrição encontrou nos livros, no movimento social e na tomada de posicionamentos firmes, muitos deles preconizados e internalizados a partir do Feminismo. Segundo Ayres, “eu converso muito sobre isso com meus amigos que são homens – e homens brancos, mas enfim. A gente tem esse diálogo e eu falo que é muito importante que seja feito o recorte, sabe. Então assim eu acho que o feminismo esteve presente durante a minha adolescência, por exemplo, mas não era essa palavra que usava. Mas eu percebi de grande importância pra me fortalecer”. E ela sabe que o feminismo em si não abarca todas as especificidades do ser mulher, por isso mesmo o Feminisno Negro é tão importante e também uma pauta que toma para si. Mas será que todos compreendem essa necessidade de dividir o movimento e, principalmente, a importância do feminismo?
“Eu tô muito numa bolha porque as meninas brancas com quem eu tenho mais relação, com quem eu converso, elas são minas brancas que – digamos assim – são aliadas. Então é muito mais fácil conversas com elas. Com outras mulheres brancas eu não tenho esse acesso. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que falam que o feminismo é muito radical. Não entendem o que é o feminismo porque não é falado. A gente tá falando bastante entre a gente, mas pra expandir a gente tem expandido muito pouco. Assim como eu não consigo entender o rolê indígena, mas eu consigo ter empatia e ouvir, que vale muito a gente ouvir”, explica.
Universidade
Se graduando em Nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Julliana afirma que seu caso de amor com a instituição veio sendo gestada durante o período do ensino médio, onde fazia um curso técnico na escola, e começou a se juntar “com pessoas que eram muito da luta de melhorias pra escola, do grêmio (estudantil) que estão ali mais entendendo de política, foi aí que eu fui entendendo mais. Porque antes eu falava ‘nossa política é um saco! Odeio política” e eu vi que não gente. Política é tudo! A nossa vida é política. Então quando eu saí dali a minha mente já estava totalmente aberta pra tudo. E a UERJ, assim, hoje eu curso Nutrição. E a UERJ ela tem mais essa pegada social da Nutrição Social e tem tudo a ver comigo. Quando eu era pequena eu me tratava no Graffee e Guinle e a minha me levava, eu acordava super cedo – lembro disso – e quando a gente passava pela UERJ eu sempre perguntava pra minha mãe ‘o que é isso aqui?’. Aí minha mãe falava que era uma universidade, mas eu não entendia o que era uma universidade. Ela tentou me explicar mais ou menos e eu falava ‘ai mãe meu sonho é estudar aí e um dia eu vou estudar aí’. Ela ‘estuda bastante que você vai’. Então assim, eu tenho uma conexão com a UERJ e não sei explicar”, resume.
Quando perguntada sobre o que a motivou para a escolha da Nutrição, ela conta que “minha família é muito envolvida com comida, trabalha com comida, então eu falava ‘quero muito fazer Nutrição’. Mas eu lembro que na época Nutrição não era como tá agora. E aí meu pai e as pessoas falavam ‘ah não, não vai por esse caminho não. É um campo muito fechado, escolhe outra coisa’. E como eu entrei em escola técnica eu pensei em fazer Engenharia. Mas no caminho tudo mudou e eu (pensei) ‘não tem nada a ver comigo. Vou seguir meu sonho”.
O que antes também era um sonho e que, arduamente, foi perseguido até tornar-se algo materializado e de suma importância para inúmeras pessoas pretas e pardas (que formam a população no Brasil) foram as cotas raciais. Sabida da diferença que ela faz, na prática e na vida, de muitos jovens Julliana Ayres se põe totalmente à favor dessa política pública. E lamenta os ataques que alguns políticos tentam promover para revertê-la. “A UERJ realmente tem um movimento estudantil muito forte, muito potente realmente. Quando eu entrei na UERJ ela tava começando um movimento de greve, de retornar à greve, e eu me juntei muito com a galera do nono andar. A galera do nono andar é a galera de Ciências Sociais, Filosofia e tal. E a gente entende que, realmente, é muito difícil quando você tá no alto de seu privilégio e você olhar pra baixo é muito difícil. Eu sei que é. Mas a gente não desistiu: a gente continuou ali juntando forças e tivemos muito resultados. E as cotas, realmente, eu criei agora – junto com as outras meninas – o primeiro coletivo de mulheres negras da Nutrição pra falar sobre isso. É muito legal o Coletivo Pérolas, que são meninas que são engajadas, que estão pensando nisso, estão pensando nas nossas vivências. Até mesmo na universidade a gente dá de cara com muitas questões racistas. Que é um racismo ali sutil, mas tá muito presente e que isso acaba entristecendo e enfraquecendo a gente ali dentro. Então eu acho que encontrar pessoas iguais é muito importante”, verbaliza.
E continua explicando o porquê da importância de se manter as cotas raciais. “Eu entendo também essa parte das cotas sociais, porque muita gente vem também com a fala “ah mas na favela também tem muito branco’. OK, na favela tem muito branco. Só que o estigma que a gente carrega, que as pessoas negras, carregam é muito maior. Tanto que são elas que são paradas (pela polícia). Eu já fui revistada, sabe. Eu já fui parada no ônibus porque eu me indignei. Porque o policial entrou no ônibus e ele só revistou o menino negro jovem que estava ali na frente. Ele passou por todo mundo, o ônibus tinha bastante gente e ele não falou com ninguém. Só tinha a gente, basicamente, eu e ele de negros e ele só falou com esse menino. Então assim, a gente tá falando de uma coisa muito mais enraizada. Então a gente tá falando de algo muito mais pesado. Que uma pessoa branca, por mais que ela seja favelada, ela não tá marcada. Ela não tá marcada como a gente tá marcada simplesmente pela cor da nossa pele ou pelo nosso cabelo”.
Por isso mesmo é perigoso cair em afirmações genéricas como, por exemplo, a que revelou em 2019 que negros são atualmente a maioria étnica dentro das universidades brasileiras. Indagada sobre a questão, Ayres é taxativa ao afirmar que “essa reportagem é muito perigosa. Realmente: como é que foi feita essa pesquisa? Eles pegaram só alguns cursos? Porque se você for fazer um parâmetro de pessoas negras dentro das Ciências Sociais, pode ate ser mesmo que seja majoritariamente negra. Só que dentro da Nutrição, por exemplo, que é o curso que eu estou ele não é. Dentro da Medicina ele não é. Então como é que foi feita essa pesquisa? Não é bem assim. Não é majoritariamente negra. Não tá mais de 50%. Então assim a gente acha que as coisas estão melhorando, mas ao mesmo tempo a gente não pode parar e achar que tá tudo certo € falar ‘ok, então vamos tirar as cotas raciais’. E não tá todo mundo no topo. Os pretos não estão no topo ainda”, alerta.
Até porque a meritocracia, ultimamente, é palavra de ordem e ofusca a verdadeira realidade. Pelo menos é assim que a estudante enxerga o conceito, tão propagado por aqueles que querem justificar algo que nem sempre corresponde ao que eles pensam – ou ao que os olhos imaginam enxergar.
“Então eu acho que a meritocracia, de fato, ela não existe. De jeito nenhum. Quando eu paro pra ver pessoas que estão no curso comigo e falam ‘ah o que a gente vai fazer nessas férias?’, ‘eu não sei se a gente vai pra Portugal, se vai pra Itália’ e falando ‘eu fiquei doente e o médico foi lá em casa, porque o médico é amigo do meu pai’. Então assim, essas mesmas pessoas elas estão dividindo ali a sala com pessoas que chegam em casa e não tem nem o que comer. Que a mãe tá ralando de madrugada, que ela tem que ir lá fazer tudo pra ela. Então como é que você vai chegar e falar assim ‘nossa seu CR é uma bosta porque se o outro consegue porque você não consegue?’. Mas você tem que ver que esse outro tem tudo na mão. Não sabe nem cozinhar um arroz. A gente tem uma matéria em que a gente cozinha e tem gente lá que ‘como é que faz isso?’, ‘nossa eu nunca fiz porque quem faz é a moça lá em casa, e eu nunca parei pra vê ela fazendo’. E aí você escuta isso e a sua mãe é empregada doméstica e tá fazendo comida na casa dela.
Então não tem como engolir meritocracia vivendo isso”.
Movimentos Sociais
Num país cada vez mais polarizado alguns dos principais movimentos sociais, independente de que lado do Fla x Flu político que esteja, são os precursores das maiores mobilizações e pautas que ditam o ritmo da sociedade brasileira. Sobre eles, Ayres vê sua importância para o contexto brasileiro. Mas também faz uma ressalva interessante.
“Eu acredito que tem muita gente que parece que tem o dom mesmo de atuar nessas frentes políticas. Porque querendo ou não são atos políticos desses movimentos sociais, desses coletivos e a galera que tem essa coisa no sangue mesmo, que tem isso fervoroso não se sente intimidado não (com as novas políticas). Tem mais estímulos pra continuar no combate. Realmente tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas nebulosas, pessoas sofrendo represálias muito forte”, sintetiza. E completa:
“(Mas) eu acho que a gente precisava mexer no discurso pra atingir fora. Porque, querendo ou não, a direita e extrema direita eles tem um discurso sedutor e que atinge aquelas pessoas que são muito imediatistas. Então claro, eles pegam por esse lado da religião, e acabam atingindo aquelas pessoas que não sabem palavras difíceis, que não estão entendendo bem o que a esquerda tá querendo passar. Como assim legalizar o aborto? O que que é isso? Como assim vocês estão defendendo bandido? Drogas? Então eu acho que a gente continua falando pra gente. Falando para as pessoas que já estão ali, que são do mesmo rolê”, assume.
Um “rolê” que parece ter saído da bolha para finalmente atingir o maior número de pessoas possíveis é no que tange à representatividade na mídia. Já tendo dito que não tinha referências quando mais nova e, que por isso mesmo, queria ser como as demais amigas (brancas), a carioca vê o atual momento com mais simpatia e felicidade para outras crianças – negras, sobretudo – a visibilidade alcançada. “Precisa ter, preciso me reconhecer, senão eu não compro. E isso é muito importante de fato. Eu lembro que quando eu estava começando a deixar o meu cabelo natural, eu ainda tava meio ‘deixo ou não deixo’. Uma amiga minha negra da UERJ me levou numa palestra, num seminário que tava tendo, intitulado ‘não sei o que dos Panteras Negras’. E aí estavam falando sobre todo o movimento dos Panteras Negras e quando eu cheguei e vi a sala cheia de gente jovem, negra, e com seus cabelos e sua estética eu falei ‘caraca que incrível! Que maravilhoso! Então quando você se vê você acaba se fortalecendo”, diz ela. E finaliza: “Então hoje vendo essas representatividades é maravilhoso! Com certeza eu gostaria que fosse assim na época que eu era criança. Mas eu fico feliz por tudo que eu passei, eu fico feliz pelas crianças que estão vendo isso. Eu vejo muitas mães cuidando dos cabelinhos, deixando natural, deixando cacheadinho, crespo e eu acho maravilhoso”.
E toda essa representatividade, postura e tomada de consciência também fez mudar a forma como se relaciona em casa com seus pais. Com um “gap” geracional entre si e seus progenitores, Julliana se coloca como o elo entre o passado e o presente na hora de elucidar o que para muitos são tabus ou ainda temas distantes dos lares. “É, então, eu acho que eu trouxe isso pros meus pais (a consciência social). Essa discussão acabou entrando em casa mesmo a partir de mim, porque eles me viam querendo mudar. Quando eu comecei a minha transição (capilar) a minha mãe não curtiu muito, mas ela me apoiou ao mesmo tempo, porque ela fazia trancinhas em mim pra eu esperar meu cabelo crescer. Mas ao mesmo tempo ela ficava ‘ah tem certeza?’. Mas eu acho que hoje os meus pais eles entendem totalmente. Meu pai é uma pessoa negra de pele clara e minha mãe uma mulher negra retinta. Então eu tento trazer isso pra eles e hoje eu vejo que o discurso é totalmente diferente, sabe. Que eles abraçam mais isso, eles entendem, mandam fotos de pessoas negras, crianças negras. Eles falam ‘ah parece você’, então aos poucos eles vão abraçando. E eu sei que é difícil pra eles, por tudo que eles passaram também né. Quanto de racismo eles já não sofreram durante toda a vida? eu falo com eles questões LGBTs, a gente conversa sobre muitas coisas e eles acabam aceitando. Entendendo ou pelo menos me respeitando. É o que peço: não propague discursos ruins que vão machucar as outras pessoas”, ressalta.
Prevenção
“Então, muito pouco (era falado). Minha mãe conversava o básico, mas era sempre com aquele discurso ‘cuidado pra não engravidar’. Basicamente isso”. Dessa forma a universitária resume de que forma a prevenção era (ou não era) tratada dentro de casa. Diante de tantas incertezas e dúvidas que suscitavam na cabeça, coube a internet ser provedora das respostas. “Mas, hoje, eu acho que converso muito mais e vejo mais na internet. As pessoas falando sobre formas de prevenção, botar ou não botar DIU, camisinha e tal. Eu aprendo muito mais na internet. Eu acho que desde que tenho acesso a internet sempre foi assim. Eu vou buscar nesse ramo”. Além do mais, segundo Ayres, “eu me sinto bastante à vontade com meus amigos pra falar de sexo do que com meus pais”.
Mas a internet não resolve nem é saída para todas as coisas. “Eu nunca vi (uma camisinha feminina). E eu tava até conversando com uma menina da faculdade que ela estava com uns problemas com o DIU, que não aguentava mais, mas também não queria voltar a tomar os remédios. E eu falei que é sempre bem difícil pra mulher nessa questão da prevenção, porque é sempre ela que tá sofrendo, é sempre ela que tá em pauta e tem que se proteger. E a gente fala muito sobre gravidez: a gente não pensa muito, acho que até hoje, nas ISTs. É mais na gravidez num relacionamento hétero. E tem muita gente que pensa também que no sexo lésbico tá tudo certo, que não precisa se proteger, não tem risco. Acho que nesse ponto a informação não tá chegando muito”, critica. P.S: ao final da entrevista a jovem recebeu, pela primeira vez, unidades de preservativo feminino distribuído pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS.
E quando chega vêm pautada sob formas arcaicas de se falar sobre sexo, sexualidade e prevenção. Pelo menos é dessa forma que a jovem encara a nova política do Ministério da Mulher, Família e Direitos em parceria com o Ministério da Saúde que preconiza a abstinência sexual como forma de evitar a gravidez indesejada e as infecções sexualmente transmissíveis via sexo. “Não faz sentido porque é uma ideia castradora. Tipo, “ah já que você não quer engravidar, então você não transa”. Só que não é essa a realidade: os jovens estão transando. As pessoas transam e isso é normal e é saudável. A informação precisa ser passada de uma forma correta. Então é uma coisa até meio católica, meio puritana”.
Um ponto de surpresa – negativa – para ela é saber os atuais índices de infecção por HIV/AIDS na juventude. “Eu fiquei muito, não sei se apavorada, mas admirada com algumas coisas que foram faladas e que eu achava que já estavam resolvidas. E aí foi quando o Richard Parker falou sobre as metas 90-90-90 e que uma das metas era que em 2020, 90% dessas pessoas estariam indetectáveis. E que não foi atingida. E eu fiquei pensando: gente que estranho, porque na minha cabeça e dos meus amigos – quando a gente fica conversando – tá tudo OK. É só você chegar lá, tomar o remédio (coquetel), ser uma pessoa responsável nesse sentido e não deixar de tomar, mas que estava tudo certo. Que dava pra conviver com isso e que a maioria estava indetectável. Só que aí, percebendo isso, e que também muitas das vezes o tratamento não chega a muitas pessoas eu fiquei pensando que muita gente pensa ‘ok eu me infectar, porque tá tudo certo, sabe. Tem remédio disponível’. E que não é bem assim”, reflete.
Emendando, foi a partir dessa nova realidade e perspectiva aprendida que Julliana Ayres ressaltou a importância das ONGs como a ABIA e projetos como o Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens para a epidemia de HIV no Brasil. “Com certeza (são importantes). Eu nem sabia que vocês existiam e agora eu acho que vocês deviam estar em todos os lugares (risos). Sabe, fazendo ações em praças e em todos os lugares porque é muito necessário. É muito necessário primeiro pra gente tirar o preconceito e o estigma, porque a gente precisa conviver, ler e ouvir. Então se eu não tô ouvindo e não sei como é que é, se eu não sei como é que acontece eu vou continuar com os meus conceitos. Podem estar errados em sua maioria. Então precisa sim falar e falar muito e existir cada vez mais ONGs/associações falando sobre isso”.
Futuro
“Ah então quando eu entrei na UERJ eu ainda tava meio perdida do que eu faria. Porque todo mundo que entra, a maioria, na Nutrição fala ‘quero me formar pra ter meu consultório e tal’. Só que eu percebi que muita gente que entrava já tinha ali um dinheiro, uma questão que seria OK elas formarem o consultórios delas quando tivessem formadas. E pra mim a coisa não funcionava tanto assim. E aí quando eu comecei a trabalhar nos projetos de extensão com crianças, com idosos, eu fui vendo que tem muita coisa pra fazer. Tem muita pauta, muita discussão que precisa ser falada e eu gostei muito dessa parte social e real. E eu quero muito me engajar, cada vez mais eu quero conseguir atender esse lado político que eu tenho em mim. Que eu entendi que tenho e que eu quero cada vez mais estar dentro disso. Porque eu acho que esse é o cerne de tudo. Porque se a gente não se apropria do que é nosso, se a gente não se apropria do nosso discurso, das coisas que precisam ser mudadas pra gente e pros outros as coisas não vão mudar. Porque ninguém vai fazer isso pela gente se a gente não fizer.
Então eu quero estar cada vez mais dentro das políticas públicas relacionadas à Nutrição, porque é a minha área, e em tudo que eu puder assim. Eu conheço alguns indígenas que são da Aldeia Maracanã e são pessoas sensacionais e que estão ali na linha de frente da luta deles. E eles disseram que os saberes são múltiplos e que a gente fica focado só num saber euro centrado e a gente acaba aprendendo somente isso. Então eu me inspiro muito nessas pessoas que tenho certeza que vão fazer a diferença lá no futuro, que os filhos deles vão fazer diferença. Eu acredito nisso e quero grudar neles, nessas pessoas que vão fazer dar certo e tudo ficar bem como meu pai fala”, acredita.
Texto e Foto: Jean Pierry Oliveira