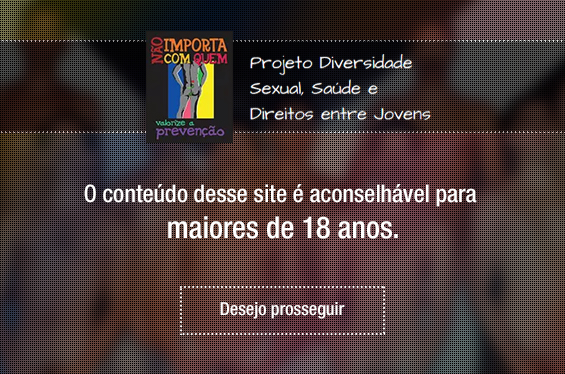Em 1989, Rogério* vivia seu melhor momento: 30 e poucos anos, viagens ao exterior como comissário de bordo, salário acima da média. Tinha acabado de comprar um carro e um apartamento em Copacabana. “Eu estava curtindo a vida, muito feliz. Até que veio o baque”, conta.
Inicialmente, essa queda foi também literal: um dia, depois de um treino na academia, Rogério desmaiou — isso nunca tinha ocorrido. Um amigo o aconselhou: não seria bom fazer uns exames? “Quando fui buscar os resultados, o laboratório ficou com medo da minha reação e se recusou a entregar o documento. Logo desconfiei da resposta”, conta. Ele tinha HIV.
Rogério já conhecia pacientes com Aids, a síndrome causada pelo vírus. “Eu sabia que o resultado era um atestado de morte. Muitos dos meus amigos estavam morrendo”, conta ele, hoje com 67 anos.
Desde 1976, ele trabalhava na Varig, então maior companhia aérea brasileira — e que faliu em 2006. Antes de descobrir o HIV, Rogério fez parte de uma rede de solidariedade de funcionários da empresa que ajudou centenas de pessoas com o vírus enquanto os medicamentos não eram acessíveis no Brasil.
Os comissários da companhia levavam receitas para o exterior — principalmente para os Estados Unidos —, onde compravam ou conseguiam os remédios por meio de doações. Depois, traziam as drogas para o país em voos da empresa.
Como os comissários e tripulantes não precisavam passar pela alfândega, os comprimidos entravam livremente no Brasil — em tese, como eles não eram registrados ou comercializados no país, o sistema era uma espécie de “contrabando do bem”.
Segundo ex-funcionários, servidores dos aeroportos sabiam da importação, mas, diante da gravidade da epidemia, deixavam o material passar pelas barreiras alfandegárias sem problemas.
Os medicamentos então eram entregues na sede da companhia, no Rio. “Havia até uma janelinha onde as pessoas pegavam as caixas. Era um sistema muito competente: em 48 horas o paciente conseguia o medicamento”, conta Mario Augusto dos Santos Filho, 78, ex-chefe dos comissários de voos internacionais da Varig.
Segundo ele, o serviço voluntário e gratuito durou do final dos anos 1980 até pelo menos 1996, quando o Congresso aprovou a lei que garante o acesso universal ao tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).
‘Por solidariedade’
A importação de comprimidos, porém, não começou com a Aids. Antes do início da epidemia, no começo dos anos 1980, comissários já usavam voos internacionais da Varig para fornecer medicamentos para outras doenças, como câncer.
“Às vezes, o remédio não existia por aqui ou custava uns US$ 5 mil. A gente comprava mais barato em farmácias de Nova York, Paris, Roma, e trazia para cá. Tudo era feito por solidariedade, sem ganho financeiro”, conta Mario Augusto, que, antes de virar chefe, atuou por décadas como comissário em voos internacionais.
Ele conta uma história curiosa desse período: “Uma vez, uma mulher famosa, e não vou te dizer o nome dela, precisava fazer um exame para confirmar se ainda estava com câncer. Então, ela me deu um recipiente com amostras de sangue. Levei para os Estados Unidos e, dias depois, trouxe o resultado: ela não tinha mais a doença.”
Nessa época, funcionários da Varig também foram afetados pela Aids. Segundo Mauro Augusto, cerca de 45 comissários morreram em poucos anos, o que alarmou a empresa e os trabalhadores.
Por outro lado, havia denúncias de que funcionários infectados eram discriminados e até demitidos — a empresa sempre negou. Em 1989, grupos de ativistas protestaram em frente à sede, no Rio. Há pelo menos um caso conhecido em que a Varig foi condenada pela Justiça a indenizar um ex-trabalhador que foi demitido por ter HIV.
O ex-comissário Alexandre Santos Silva, 61, lembra que temeu perder o emprego quando descobriu ter HIV, em fevereiro de 1992. “Tive colegas que foram demitidos, mas obviamente a justificativa não era o vírus. A empresa afirmava que a demissão era por questões de competência”, diz.
Ele conta que consultou um advogado, que o orientou a enviar uma carta aos diretores informando a situação — caso ele fosse demitido, poderia acionar a Justiça alegando ter sido discriminado. “Também colei um cartaz no mural da sede, contando para todos os meus colegas que eu tinha HIV”, afirma.
Ainda assim, ele foi afastado do trabalho no mesmo dia e nunca mais voltou — continuou, porém, tendo acesso ao salário e ao serviço de médicos da Varig. “Havia médicos e psicólogos muito bons na empresa. Fui tratado por eles de maneira muito atenciosa”, conta.
Anos depois, Alexandre foi aposentado por invalidez.
‘Sentença de morte’
Quem descobria ter HIV naquela época, além de possuir uma “sentença de morte”, enfrentava preconceitos e estigmas. Por muito tempo, de forma equivocada, a Aids foi associada à comunidade LGBT, com a alcunha de “peste gay”.
Alexandre Santos Silva conta, por exemplo, que perdeu boa parte dos amigos para o preconceito. “Todo mundo desapareceu. Meus amigos se escondiam quando me viam na rua. No meu prédio, as pessoas saíam do elevador quando eu entrava”, diz.
Conseguir tratamento também era tarefa dificílima, pois, por alguns anos, não havia medicamentos que tratassem essa condição — e sim apenas os males chamados de “oportunistas”, como diarreias e infecções. Milhares de pessoas contraíam o vírus, desenvolviam a doença e morriam rapidamente.
“Não tinha como tratar, pois os remédios não existiam aqui. Precisava importar e a maioria das pessoas não tinha dinheiro”, conta Márcia Rachid, médica infectologista e uma das fundadoras do Grupo Pela Vidda, que ainda hoje trabalha com pessoas com o vírus. “Em 1989, quando surgiu o AZT (primeira droga que demonstrou eficácia no tratamento da Aids), o Ministério da Saúde enviava pouquíssimas unidades para os hospitais”, diz.
Na Varig, os funcionários decidiram buscar os remédios no exterior para tratar os colegas doentes.
Rogério conta que por mais de um ano importou suprimentos para um amigo, que depois morreu. “Era uma situação terrível. Lembro que eu tinha uma agenda de telefones que tinha mais gente morta do que viva”, conta.
Pacientes de fora ficaram sabendo da rede de solidariedade e passaram a contatar os comissários, afirma Mario Augusto. “Eu conseguia os remédios em duas farmácias de Manhattan. Muitas vezes, os farmacêuticos doavam as caixas para nós. Por anos, esses dois farmacêuticos ajudaram muita gente no Brasil”, diz.
Veriano Terto Júnior, vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), resume o que significava conseguir se tratar naqueles tempos. “A gente tende a esquecer essa história, mas as pessoas faziam qualquer coisa pelos remédios. Era um luta e uma questão de vida ou morte”, diz ele, que trabalha com pacientes desde os anos 1980.
‘Não vou te dizer que tirei de letra’
Rogério participou dos dois lados dessa história: primeiro, forneceu tratamento para os outros, mas, depois, acabou ajudado pelos colegas de Varig — recebeu caixas importadas por quase dois anos.
Ele escondeu ter HIV por quatro anos. Até que um dia passou mal enquanto viajava, e o médico da empresa lhe pediu exames. “Eu fugi do tratamento por muito tempo, mas depois não teve jeito, porque fiquei muito mal”, conta.
Rogério chegou a pesar 35 quilos — seu peso normal era 65. “Não vou te dizer que tirei de letra (o HIV), porque não foi fácil. Sofri muito, fiquei muito doente. Isso sem contar o preconceito que um soropositivo sofre. Um dia revelei que tinha HIV para meu dentista, e ele simplesmente disse que não iria mais me atender. Era esse tipo de coisa que a gente enfrentava”, diz.
Ele foi afastado do trabalho por dois anos e, depois, aposentou-se por invalidez. O que parecia um benefício, porém, hoje atrapalha Rogério. Ele não pode ter outro serviço remunerado e, apenas com a renda da Previdência, precisou vender seu apartamento em Copacabana. Hoje, vive no aperto.
Por outro lado, o tratamento tornou seu HIV indetectável. Ou seja, a carga viral em circulação em seu sangue é baixíssima — nesses casos, o vírus não chega às secreções genitais e perde a capacidade de transmissão por relações sexuais. “Posso dizer que sou um sobrevivente”, afirma.
Mortalidade e infecção
Depois de alguns anos, a importação informal da Varig deixou de ser necessária. Em meados dos anos 1990, o Brasil passou a comprar os medicamentos, embora eles não estivessem acessíveis a todos.
Uma enxurrada de ações judiciais pedindo que o SUS bancasse o tratamento levou o Congresso a aprovar, em 1996, a Lei 9.313, que garante a distribuição gratuita dos remédios.
Naquele ano, houve outro avanço: o tratamento para HIV/Aids era focado no momento em que a doença já tinha se desenvolvido. Porém, estudos mostraram que o HIV não tinha latência — ou seja, ele agredia o corpo o tempo todo.
Foi então que surgiram os chamados coquetéis antirretrovirais, conjunto de medicamentos que atacam o ciclo de vida do vírus, antes mesmo do desenvolvimento da doença. “O AZT sozinho não funcionava. O tratamento passou a dar certo quando descobrimos que era preciso associar pelo menos três remédios para o vírus”, diz a infectologista Márcia Rachid.
As políticas públicas do Estado brasileiro, que chegou a quebrar uma patente para garantir o fornecimento de remédios, deram resultado: uma pesquisa recente do Ministério da Saúde, por exemplo, apontou que 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas entre 2003 e 2007 tiveram sobrevida superior a 12 anos. Em 1996, antes da oferta de tratamento, esse tempo era estimado em cinco anos.
Por outro lado, o Brasil registrou uma alta de 21% no número de novas infecções entre 2010 e 2018, segundo o Programa Conjunto da ONU para HIV/Aids, o Unaids. Especialistas argumentam que essa alta de diagnósticos pode ter ocorrido também por causa da ampliação da testagem no país.
Para Ricardo Diaz, professor de infectologia da Universidade Federal de São Paulo, a reação do Brasil à epidemia é uma referência mundial. “Nossa resposta foi rápida e inovadora. O tratamento pelo SUS atinge 100% das pessoas que descobrem o vírus, o que acaba sendo uma maneira de prevenção, pois impede que ele se espalhe mais. Os Estados Unidos, por exemplo, tratam apenas 50%”, diz.
Mas Diaz cita alguns gargalos. “Conforme o número de infecções aumenta, como a gente mantém esse acesso? A conta fica mais alta, mais cara. Outro ponto é que ainda há uma dificuldade maior de manter o tratamento na parcela mais vulnerável da população”, diz.
Já Márcia Rachid cita o velho estigma como um fator que ainda atrapalha. “Há pessoas que são mais vulneráveis ou vulnerabilizadas pelos outros: gays, travestis, transexuais. O preconceito, às vezes até da família, ainda afasta muita gente do diagnóstico e até do tratamento”, diz.
“Quando você abandona um tratamento eficaz, você está optando pela morte. Então, o principal gargalo do HIV e da Aids no Brasil continua sendo o preconceito.”
*O nome do ex-comissário da Varig foi alterado.
Fonte: BBC Brasil