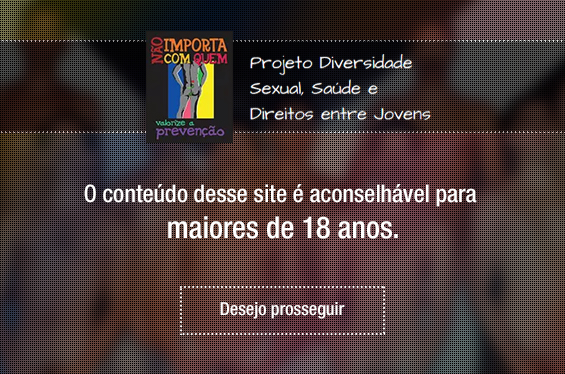RIO — Na primeira vez em que entrou num abrigo , Milena Santos Silvestre tinha 9 anos. Sua mãe havia saído de casa, em Jacarepaguá, no Rio, sob ameaças da milícia, e orientou a menina a levar os cinco irmãos ao Conselho Tutelar da região. Lá, foram separados — Milena e a irmã mais velha foram direcionadas para uma unidade de acolhimento voltada para a faixa etária delas.
Foi a última vez que viram os outros irmãos: dois foram adotados por uma família italiana, e os outros dois, por pais do Rio. Milena, à época, já tinha poucas chances de ter o mesmo destino: só 1,66% dos que pretendem adotar no país indica que aceita crianças com até 9 anos. E esse percentual decresce conforme aumenta a idade da criança — só 0,14% dos pretendentes aceita crianças com até 17 anos.
No Brasil, 48.025 crianças e adolescentes vivem hoje em abrigos, dos quais 4.992 estão aptos para adoção , ou seja, “desligados” juridicamente dos pais biológicos.
Segundo o coordenador de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Azambuja, é normal que exista diferença entre o número de crianças acolhidas e aptas para adoção.
— O abrigo é uma medida de proteção em favor da criança quando há situação de vulnerabilidade, o que gera a necessidade de ela ser retirada do ambiente familiar. Como essa medida é excepcional e tem inúmeros impactos para a criança, a primeira tentativa deve ser fortalecer os vínculos familiares e comunitários para que ela volte à família. Então, muitas crianças estão no abrigo temporariamente até que possam voltar para casa. Para serem adotadas, todas as tentativas de retorno à família devem ter sido esgotadas. Quando isso ocorre, os pais são destituídos do poder familiar, e as crianças entram no cadastro de adoção — explica Azambuja.
Das quase 5 mil crianças hoje neste cadastro, 92,2% têm entre 7 e 17 anos, faixa etária de menor interesse dos 46.223 pretendentes registrados no mesmo sistema.
Sem abrigo depois dos 18
Hoje, aos 21 anos, já fora do cadastro de adoção, Milena vive outro desamparo: depois dos 18, um jovem não adotado perde o direito de permanecer no acolhimento para menores.
Para contornar o problema, a Política Nacional de Assistência Social previu que os municípios criassem as chamadas “repúblicas”, que abrigariam jovens com idade entre 18 e 21 anos em situação de abandono familiar.
No Rio, as repúblicas inexistem — e a Defensoria Pública move ação contra o município exigindo a criação de tais unidades. Um acórdão de 2016 decidiu que a prefeitura deveria implantar o serviço. O município recorreu, e a ação tramita, desde janeiro deste ano, no Superior Tribunal de Justiça.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social confirmou que “não houve aceite nem implantação destes dispositivos assistenciais no Rio”. Lembrou, porém, que os jovens são encaminhados para abrigos de adultos. Para os menores, segundo a prefeitura, existem 11 abrigos conveniados e 14 públicos, que somam 537 vagas.
— Abrigo de maior é uma mistura de cracolândia com gente normal, de tudo quanto é idade, tudo quanto é cabeça. Eu aguentei três meses e fui embora — conta Milena.
Ela agora mora em Jacarepaguá com a mãe biológica, que reencontrou neste ano. Na Justiça, ganhou o direito de receber aluguel-social da prefeitura, dada a falta do serviço de república. Os R$ 400 mensais juntam-se ao que ela consegue nos finais de semana, quando deixa a escola e segue para vender bala e bombom em frente a boates na Zona Oeste do Rio.
Para o juiz Sergio Luiz Ribeiro de Souza, da 4ª Vara da Infância do Rio, mais urgente do que criar repúblicas — das quais há poucas referências no país — é estimular a adoção daqueles com mais idade.
— É muito claro para todos que, a partir dos 7 anos, fica difícil a adoção. Porém, o processo de retirada do poder familiar (dos pais biológicos da criança) costuma ser longo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente pede que se lute por esse vínculo — diz.
O juiz defende que pretendentes sejam levados a olhar para crianças fora de seu perfil de interesse inicial:
— O que eles têm é um ideal de vínculo. E tentamos mostrar que isso não se dá apenas com um bebê, pode surgir com um adolescente.
Mudança de visão
Mudar de ideia não era algo programado para Rosimar Rodrigues dos Santos. Ela e o marido, Leandro Rodrigues, sempre nutriram planos de adotar um bebê. Num dia de trabalho, Rosimar foi revisar relógios de ponto num abrigo no Flamengo. Era 2016, e ela assuntou sobre adoção com funcionários da instituição.
— Entrei em contato com o juiz e ele me contou sobre o programa Padrinho Afetivo. Poderia ficar com a criança por alguns dias e levá-la de volta ao abrigo — conta Rosimar. — No momento em que cheguei lá, um garoto veio até mim e, sem dizer nada, me abraçou. Era o Márcio.
Às sextas, o garoto passou a ir para a casa de Rosimar, em Nova Iguaçu, para ser devolvido ao abrigo na segunda seguinte. Em quatro meses, as despedidas ficaram penosas.
— Era ele chorando de um lado, e eu, do outro. Ali, o Márcio já era meu filho — conta ela, que então deu entrada no pedido de adoção.
Hoje, o jovem vive com a nova família. Tem 14 anos e pediu para mudar de nome — agora é Leonardo, para combinar com os dos outros filhos de Rosimar, Lucas e Laura.
— Minha intenção inicial era ter um bebê. Achava que só assim ele aprenderia a me chamar e me ver como mãe. O olhar dele naquele dia no abrigo, quando nos vimos pela primeira vez, me fez entender o quanto estava sendo egoísta. Olhei para ele, vi sua história e entendi que iríamos reescrevê-la juntos.
Fonte: O Globo