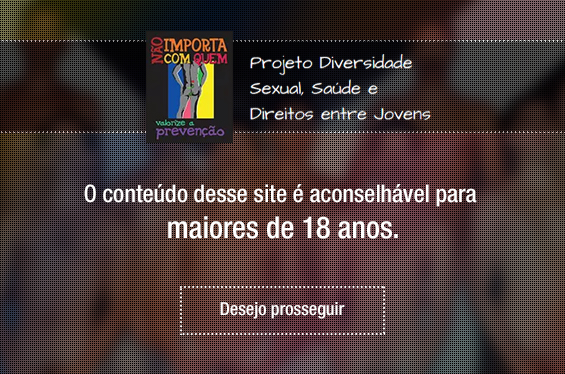Apesar de seus 18 anos de idade, a jovem Nayara Almeida já tem postura e opiniões suficientemente embasadas, tal como “gente grande”. Moradora do bairro Anchieta, que marca a divisa do Rio de Janeiro com a pequena cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, é lá que ela desenvolve suas atividades – de cunho pessoal e político. Isso porque em seu bairro, “que é uma área esquecida”, falta o essencial: segurança e cultura. “Eu acho que a Cultura acaba se sobressaindo mais do que o quesito Segurança porque a gente tem a Lona Cultural, a gente tem os eventos, mas não é uma coisa que fica, tipo, muito tempo. Não tem uma coisa de troca de “vamos mexer com comunidade”, porque eu moro na parte da antiga favela, e não tem isso. Nós temos pouca cultura, lazer. Pra gente ter um lazer a gente tem que ir pra Nilópolis ou pra Guadalupe ou sair dessa “áreazinha”, então é bem complicado porque a gente tem pouca coisa de cultura”, diz ela.
Apesar de seus 18 anos de idade, a jovem Nayara Almeida já tem postura e opiniões suficientemente embasadas, tal como “gente grande”. Moradora do bairro Anchieta, que marca a divisa do Rio de Janeiro com a pequena cidade de Nilópolis, na Baixada Fluminense, é lá que ela desenvolve suas atividades – de cunho pessoal e político. Isso porque em seu bairro, “que é uma área esquecida”, falta o essencial: segurança e cultura. “Eu acho que a Cultura acaba se sobressaindo mais do que o quesito Segurança porque a gente tem a Lona Cultural, a gente tem os eventos, mas não é uma coisa que fica, tipo, muito tempo. Não tem uma coisa de troca de “vamos mexer com comunidade”, porque eu moro na parte da antiga favela, e não tem isso. Nós temos pouca cultura, lazer. Pra gente ter um lazer a gente tem que ir pra Nilópolis ou pra Guadalupe ou sair dessa “áreazinha”, então é bem complicado porque a gente tem pouca coisa de cultura”, diz ela.
Outra falta importante para Nayara é com relação a seus pais. Criada pela avó materna e por uma tia, a jovem não tem maiores lembranças ou afeto de seu pai e, principalmente, de sua mãe. “A minha mãe me teve muito nova, com a minha idade, uns 18 anos e ela não tinha maturidade e acabou me deixando com minha avó. E meu pai eu nunca conheci. Tenho o nome dele na minha certidão, mas eu nunca vi. Só sei, sei lá, de imaginação”. A distância que inquieta – a mãe atualmente mora em Minas Gerais – lhe deixa com vontade de ir atrás de respostas para entender os motivos da ausência parental, mas segundo ela, sua avó e tia não “deram abertura para isso”. Entretanto, se não pode alterar o passado, é no presente que a estudante de teatro busca formas de ajudar na construção de um futuro diferente. Exercendo o direito de votar desde os 16 anos, Almeida disse que desde a infância sempre foi estimulada em casa por seus avós a engajar-se dentro das questões políticas e sociais, pluralizando seus olhares sobre um mesmo fato. “Então, eu fui crescendo e fui entendendo que eu tinha necessidade de participar da política. Eu acabei entrando, mais em Nilópolis do que em Anchieta, participando ativamente. Sou do partido PSOL e do coletivo Rua”, revela. E completa dizendo sobre os motivos que a levaram ao partido da chamada “extrema esquerda”: “eu acho que a gente meio que pra participar da política precisa de um núcleo, precisamos ter várias pessoas no mesmo ideal, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. E dentro dos meus ideais de liberdade, de querer, de lutar pela igualdade mesmo, por esse governo que está destruindo a gente e dentro do município e da minha área, (este) foi o partido que me acolheu”, conclui.
Mas nem sempre esse “acolhimento” é visto com bons olhos. Nem mesmo dentro de casa. “O pessoal mesmo dentro da minha casa, a minha avó, fala que o PSOL é o partido de puta, viado e sapatão. E tem muita gente que sabe que a criação do PSOL foi de um desentendimento dentro do PT, então as pessoas ainda ligam o PSOL ao PT. Não tem nada a ver, os partidos são totalmente diferentes. Eu tento conversar e digo “gente calma, não é nada disso”, a gente defende as coisas, a gente entende o que as pessoas passam, o que acontece, mas é difícil né (sic) dentro de casa, é meio bizarro porque minha avó é meio confusa na situação política dela. Ela é católica”, conta ela.
Confuso também é o sentimento que resume o despertar de sua (bis)sexualidade. A jovem revela que desde a época escolar já sentia atração por meninos e meninas, porém, “era uma coisa muito confusa na minha cabeça. Isso porque eu nunca tinha encontrado ninguém que sentisse a mesma coisa, nunca tinha lido nada sobre e nem tinha visto na TV, a gente não tem referência de bissexuais na TV. Então eu não tinha muito entendimento sobre o assunto, foi uma coisa meio difícil”,completa. Com o passar do tempo chegou a adolescência. E com ela a certeza dos seus sentimentos e afetividade: “eu entrei na adolescência e comecei a namorar um menino. A gente ficou três anos namorando até que chegou um momento que eu percebi e falei “olha não dá, eu tenho que entender o que eu sou”. Aí eu fui estudar num preparatório, conheci uma menina e beijei ela. Aí foi ali que eu disse “gente, não é que eu gosto também. Eu sou lésbica ou eu sou hetero?”, aí eu comecei a pesquisar sobre, fui entrando em fóruns, lendo em sites de internet e “gente, uau, tem muitas pessoas que sentem a mesma coisa”, fala ela sobre a surpresa pela descoberta.
Apesar disso, diferentemente da realidade de outros LGBT’s, a estudante não teve maiores problemas dentro de casa quando externou sua orientação sexual para os demais entes. Segundo ela, “foi muito tranquilo. Com a minha avó também foi mais ou menos assim, foi natural e acontecendo. Eu nunca cheguei a namorar sério uma menina, então na cabeça dela eu acho que é muito mais uma coisa física do que afetiva. Não é muito isso na minha cabeça, mas ela entende mais como diversão. Mas ela já disse “você tem que se decidir, porque eu não quero sapatão na minha casa” e eu falo que não sou 100% sapatão. Eu gosto dos dois, a gente vai cortando pros dois lados”. Mas a avó de Nayara não é um caso isolado de incompreensão para com a bissexualidade. Estigmatizados e invisibilizados até mesmo dentro da própria comunidade LGBT, Almeida contextualiza sobre o assunto dizendo que “eu acho que, às vezes, os gays e as lésbicas acabam enxergando a gente como “ah você está se divertindo também”. E tem essa coisa do tipo (pelos meninos) “eu não vou te beijar porque você beija meninas”, já a menina lésbica vira (e diz) “eu não vou te beijar porque você já beijou meninos. Eu não gosto de homens e eu não vou te beijar porque você já beijou homens”. É bizarro isso, é uma coisa que não tem nada a ver. Acham que é um monstro sexual que tá (sic) lá bem pequenininho no B, no LGB, bem pequeno e a gente não existe. É uma coisa bem bizarra”.
Inexistência também é o resumo de muitas ações de políticas públicas, especialmente aquelas voltadas para as minorias, na atual conjuntura de penúria do estado do Rio de Janeiro. Com um governo atolado em dívidas, atrasos de pagamentos e desassistência em todos os setores, além de uma prefeitura mais conservadora ou menos amistosa para a diversidade sexual, o que restou é muito pouco. Ou nada. “Não tem uma política pública de combate a doenças sexualmente transmissíveis com LGBT’s, não tem uma abordagem. As pessoas escondem, escondem que existem LGBT, a gente não vê muito isso na rua. Tem a violência também que é pesada, tenho amigos que foram agredidos por serem LGBT’s. Então dentro da cidade, do município, a política pública é nada, não existe”, critica ela. Que ainda compara: “em Nilópolis está melhor do que aqui no Rio, a gente teve a semana de visibilidade LGBT no dia 17 (Dia Internacional da Luta contra a Homofobia) e vários eventos”. Criteriosa e observadora, nem a visibilidade alcançada nos últimos anos na Televisão pela comunidade LGBT foi (ou é) suficiente para a promoção de debates positivos. “Na televisão a gente é muito esteriotipado. Porque tem muito aquele esteriótipo do gay que é totalmente afeminado ou normativo, mas geralmente ele é afeminado, ou ele é estilista, ou ele é escandaloso, ou ele é isso e aquilo ou ele é amiguinho de alguém. Então eu acho que é muito esteriótipo. E eles acabam ganhando dinheiro em cima da gente (risos), esteriotipando a gente. Não é assim. A gente vive, sofre, é a mesma coisa do que um hetero”, lamenta.
A mesma consciência política e crítica sobre a política e sociedade, também encontra eco nos dilemas de sua juventude. Ciente da importância da prevenção e da qualidade dos relacionamentos, Nayara revela que mesmo com todos os aparatos tecnológicos disponíveis, o jovem negligencia a prevenção e perdeu o medo da AIDS. “A gente não tem mais relatos de artistas morrendo. Na década de 80, 90 a gente teve vários artistas morrendo pela decorrência da AIDS: Cazuza, Renato Russo. Então, hoje em dia, a gente não tem isso, a gente não tem na mídia pessoas que tem AIDS e que debate sobre a AIDS e que, infelizmente, morrem com a AIDS. Então, a gente perdeu o medo. Os jovens perderam o medo, a gente tem aquela coisa “ah mais tem remédio, pode viver tranquilo”, então é muito isso”. E completa: “A gente acaba enxergando isso. Porque a galera não se preocupa. Existe tratamento, a gente acha que vai viver bem, mas não gente. É muito remédio. A gente tem que entender isso, que a gente vai conviver com a doença a vida inteira”. Para ela, as redes sociais, se bem utilizadas, podem ser bons instrumentos de debates, abordagens e discussão de temáticas que norteiam a vivência do jovem para além do HIV/AIDS.
Feminismo, Aborto e Drogas
Se (auto)declarando feminista, a jovem vê o movimento feminista no Brasil dividido entre duas correntes: a liberal e a radical. “Então, as duas vertentes não se batem e isso é muito complicado porque não adianta a gente ficar brigando. Igual aquela questão da esquerda: não tem o porque a gente brigar. A gente (sic) tem que se unir independente das diferenças pra um bem maior, que é a luta contra o machismo”, sintetiza com seu olhar crítico. Outro problema enfrentado pelo Feminismo no Brasil é o estigma de que o movimento é um “machismo às avessas”, ou seja, protagonizado e liderado por mulheres que defendem a tese de uma superioridade aos homens. Sobre isso, ela afirma que “as pessoas não entendem o que é o feminismo, elas não sabem muito bem, elas não pesquisam, elas não tiveram esse ensinamento no colégio, não tiveram acesso. Então elas entendem o feminismo no senso comum, que é o feminismo que a mulher quer ser superior ao homem. E as pessoas acabam, meio que, impedindo que cresça o movimento e não entendem por causa disso: porque acham uma coisa que não é”, pontua. E quanto à participação de mulheres transexuais no feminismo: é algo legítimo ou proibido?
“Na minha cabeça, na minha concepção, mulher trans tem direito sim de participar do feminismo. Porque, independente do sexo biológico dela, ela é uma mulher. Ela se enxerga como mulher, ela está procurando formas de se enxergar melhor como mulher, se enxergar mais como mulher. Então eu acho que é desnecessária essa exclusão da mulher trans no feminismo”, assertiva ela. Entretanto, diz reconhecer os motivos da ala considerada mais radical que não concorda com a tese, bem como com o fato do feminismo também ser dividido entre o “feminismo de zona sul” e o “feminismo periférico”, isto é, na luta percorrida por um único bem comum, mas sob caminhos diferentes entre as peculiaridades da experiência e vivência de uma mulher negra (com maiores percalços) em comparação com as mulheres brancas (mais privilegiadas).
No que tange ao aborto, a opinião é clara e objetiva. “Essa é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos. Eu acho que o debate está mais amplo do que era. Mas a gente precisa crescer mais pra debater mais, pras pessoas entenderem que a mulher tem o direito de fazer o que ela quiser, que há mulheres que não tem condições de terem filhos e por algum descuido ou por algum problema dos métodos contraceptivos, elas engravidam. Porque nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Acho que isso vai demorar uma década, no mínimo, pra gente conseguir levar o debate”. Sobre as políticas de combate a droga no Brasil, Almeida enfatiza que o problema não está no usuário e sim na falta de um olhar mais humanizado para a questão, principalmente, nas Cracolândias e em governos como o do prefeito de São Paulo, João Dória Jr. “Cara, ele é totalmente despreparado pro papel dele. Ele ignorou o fato de terem psicólogos falando pra ele não fazer isso, psiquiatras falando que não adianta a internação compulsória, que isso e aquilo, e ele simplesmente quer maquiar. Ele não tá (sic) preocupado se tem ali pessoas que viveram, tiveram problemas na vida, problemas na família, eles não estão preocupados com isso. Eles querem tirar, querem matar. Eles derrubaram um muro com pessoas dentro de casa, derrubaram casas, eles não estão preocupados com os pobres que estão lá, com os negros que estão lá. Porque a maioria que estão lá são pobres, são negros que tiveram algum momento de problema na vida e acabaram pegando refúgio pela droga. Eles não estão preocupados com isso”, critica. Por isso mesmo, também diz que levará um tempo até que a questão da legalização da maconha – para além da aprovação em usos medicinais como já foi autorizado no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) – irá ser muito gradual e lenta.
Futuro
Com formação técnica no Magistério, Nayara disse que apesar de ser uma profissão nobre, quando experimentou a realidade da Educação no dia a dia, se desencantou e desistiu de seguir na área. “Além da falta de valorização, é muito complexo trabalhar com crianças. É uma responsabilidade muito grande que eu não me sinto preparada pra trabalhar com tal coisa. Porque além da coisa de você ensinar a matéria, tem toda a questão social também. Eu fiz estágio numa área bem periférica de Nilópolis que é o Paiol, uma área bem violenta e eu ouvia alguns relatos de algumas crianças que eu ficava “gente, o que eu posso fazer pra ajudar essa criança? Eu não posso fazer nada”. Eu me sentia muito impotente”, relata.
Talvez por isso, seu maior desejo seja as artes cênicas. Cursando teatro desde os 15 anos – “sou hiperativa e o médico recomendou essa atividade para a minha avó” – Nayara aspira com o sucesso nos palcos como forma de elucidação para a realização pessoal e profissional, a partir de suas ideologias. “Minha expectativa maior é conseguir viver do teatro, das artes e não precisar de uma segunda fonte de renda. Esse é meu desejo principal. O segundo é conseguir mudar um pouco a realidade das pessoas em volta que são menos privilegiadas (do) que eu. Parece muito discursinho de Miss Universo, mas eu consigo sentir muita empatia pelas pessoas ao meu redor. Então é mais ou menos isso, de eu conseguir ter dinheiro do meu trabalho, do teatro e conseguir ajudar algumas pessoas pelo menos. Pelo menos fazer o mínimo”, esperança.