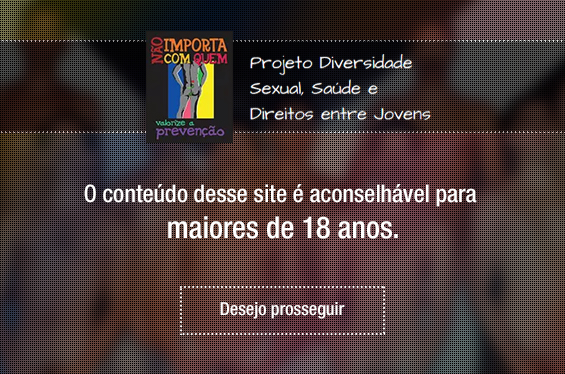Cheguei aos EUA em 2019 como bolsista em situação de risco da Universidade Harvard. Depois de ter sido sequestrado e torturado na Nigéria por ser gay e ter a coragem de me assumir abertamente, os norte-americanos me ofereceram refúgio. Entretanto, depois de ver os vídeos da morte de Ahmaud Arbery e de George Floyd, surgidos no início do ano, estou começando a me acostumar à ideia de que o país que me prometeu segurança é o mesmo onde negros como eu enfrentam outro tipo de perigo.
Toda vez que explico a alguém por que estou aqui, a triste ironia da situação me atinge como um soco no estômago. Simplesmente troquei uma identidade perigosa – ser gay na Nigéria – por outra – ser negro nos EUA. A angústia fere fundo.
Tendo crescido do outro lado do Atlântico, eu já sabia bem que em terras norte-americanas a masculinidade negra é considerada patológica e sua presença, implacavelmente vigiada. A história de Martin Luther King geralmente é lida lado a lado com a de Eric Garner. Não dá para idolatrar Barack Obama e não se encolher por dentro com o assassinato trágico de Michael Brown por um policial branco em Ferguson, no Missouri. A glória dos Estados Unidos é global, como também é a luta de seus cidadãos negros.
E, no entanto, por algum motivo, consegui acreditar que minha identidade homossexual me protegeria – não porque oferecesse imunidade contra o racismo, mas porque ainda trago no corpo as cicatrizes recentes dos ferimentos sofridos nas linhas de frente do ativismo LGBTQ na Nigéria. Eu pensava que, se houvesse alguma justiça neste mundo, eu seria poupado da dura realidade de outra existência marginalizada. Eu achava que minha masculinidade, considerada muito frágil e inadequada na Nigéria por causa da minha orientação sexual, não poderia ser considerada ameaçadora nos EUA.
Mas descobri que, aqui, a combinação da masculinidade com a melanina se transforma em algo monstruoso – quer dizer, na imaginação dos brancos.
É quase certo que nem passou pela cabeça dos policiais que me jogaram contra o capô do carro e me revistaram na minha segunda semana nos EUA que os dois negros que viram passeando de carro na interestadual podiam ser amantes ou namorados tentando aproveitar até o último raio de sol de um dia de verão. O que viram foi um carro com dois negros correndo de – ou para – um crime.
Há sérios problemas com o policiamento nigeriano também – e os abusos lá cometidos ganharam a atenção mundial graças a um movimento chamado End Sars. A diferença é que, na minha terra, a brutalidade policial não é motivada por estereótipos racistas. Além disso (e o mais importante), os EUA se gabam de ser um defensor mundial dos direitos humanos; o histórico nigeriano nessa frente é meramente modesto, quando não péssimo. Eu esperava coisa melhor aqui.
E é claro que não são só os policiais que acreditam em estereótipos racistas. Quando a atendente da farmácia da Harvard Square começou a andar atrás de mim depois que dei uma espiada na prateleira de cosméticos, imagino que tenha visto um negro com más intenções óbvias. Graças a essa e a outras ocasiões, descobri que o “pois não?” dirigido a um negro em um estabelecimento é mais uma opção sutil de vigilância que uma pergunta educada.
Para tentar me explicar por que muitos brancos atravessavam a rua para evitar cruzar comigo na caminhada de sete minutos do escritório, no Barker Center, até em casa, à noitinha, segurando a bolsa com firmeza, um colega branco disse: “Pode ser sua bota, seu passo apressado; sabe como é, você é negro. Devia dar uma melhorada na aparência, sei lá.”
Mas eu já estava exausto quando saí da Nigéria e cheguei aqui. Lá, como homossexual assumido, minha maior prioridade toda vez que saía de casa era voltar vivo. Como negro nos EUA, nada mudou.
Meu país não era lugar para um adolescente como eu, gay e de trejeitos exagerados. Ou, para ser mais explícito: eu era uma aberração social, uma ameaça à versão mais virulenta de masculinidade tóxica. Para me encaixar, ou melhor, sobreviver, forcei-me a readaptar meu corpo e aprender novas maneiras de caminhar pelas ruas no dia a dia. Minha escolha de roupas, sapatos, minha linguagem corporal – tudo isso era resumido em alguém a ser ignorado ou um moleque pronto para tudo.
Em uma tarde de sábado, quando eu tinha 13 anos, meu irmão me levou a uma loja de equipamentos esportivos em Aba, no sudeste da Nigéria. Depois de pechinchar com o bonitão de meia-idade que era dono da loja e que ficou o tempo todo me provocando por causa da minha estrutura “de menina”, ele pagou os dois halteres de 2,5 kg e pegamos o ônibus de volta para casa. Os pesos eram para mim.
Eu tinha acabado de me mudar para a cidade para começar a estudar em um colégio técnico só para meninos. No fim da primeira semana, voltei para casa com um monte de hematomas e um novo apelido, Chinelo – nome de origem igbo dado às meninas. Na época, Aba, o centro comercial mais resistente do país, era famosa por suas gangues, um grupo de justiceiros violentos e o alto índice de violência urbana. Meu irmão temia que eu não sobrevivesse à cidade.
Assim, ele não só me comprou equipamento para levantamento de peso e fez questão de acompanhar meu treinamento, como me deu uma bota Timberland e chinelos Caterpillar com sola dentada e peso exagerado. Não demorou para eu trocar os shorts cáqui justos por uma calça jeans larga e boné toda vez que saía de casa. Embora esses artifícios, principalmente as botas, tenham se tornado a marca registrada do meu guarda-roupa, não fizeram muito para me proteger da homofobia cada vez maior e mais violenta na minha terra natal.
O problema da “mudança de códigos” na vestimenta é que ela não só não funciona (na noite em que fui sequestrado na Nigéria, eu estava usando uma bota de bico de aço da Caterpillar) como joga a responsabilidade moral sobre os ombros da vítima de preconceito impensado. Pede ao homem negro, por exemplo, que melhore sua aparência para acalmar as neuroses de gente branca apavorada. Aos homossexuais (no caso da Nigéria), que se empenhem por uma sociedade que jamais vai parar para reconhecer o terrorismo tácito que pratica.
Eu me vejo preso a essa situação de terror social insolúvel desde os 13 anos, oscilando constantemente entre a autodefesa e a autodestruição. Hoje, aos 27, estou absolutamente exausto.
Para piorar, o contexto cultural difere de um país para o outro; a maioria das dicas sociais que aprendi para me proteger na Nigéria poderia me causar sérios problemas nos EUA. Por exemplo, pôr a mão no bolso da calça era um mecanismo a que eu apelava no meu país para me impedir de gesticular demais; nos EUA, é um dos principais comportamentos a evitar quando se é parado pela polícia, pois indica que você está tentando sacar uma arma e o policial está só se defendendo. Depois disso, tudo o mais vai ser descrito no pretérito – inclusive sua vida.
Na mesma semana que postaram nas redes o vídeo de Ahmaud Arbery sendo morto enquanto corria perto de casa, na Geórgia – o equivalente a um linchamento –, recebi na minha caixa postal outras imagens, as do assassinato bárbaro de um gay a poucos quilômetros da minha cidade na Nigéria. Ambos se chocaram contra a trajetória da minha jornada: enquanto um apontava para o trauma de um destino do qual escapei por um fio, o outro revelava os horrores do presente, ambos explícitos e carregados de destruição. Ambos abalaram minha crença em um mundo no qual eu não esteja tomando a forma de uma presa.