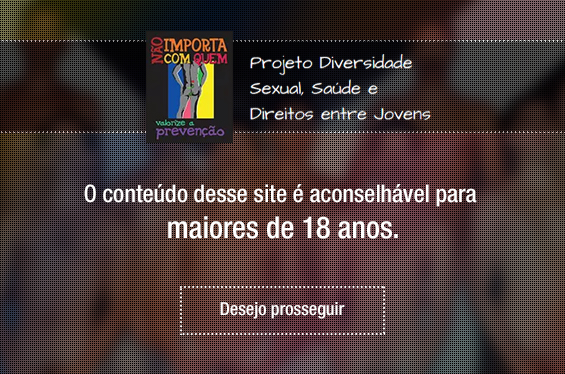Numa cidade pequena, do interior do principal estado brasileiro – economicamente e socialmente falando – , onde não há maiores oportunidades de emprego e onde muita das vezes você é a exceção que confirma a regra, não há maiores caminhos para percorrer. Imbuída desse sentimento, Maria Lucia Meira Clemente não enxergou outro caminho senão o da Educação para descobrir novos mundos e expandir os conhecimentos.
Numa cidade pequena, do interior do principal estado brasileiro – economicamente e socialmente falando – , onde não há maiores oportunidades de emprego e onde muita das vezes você é a exceção que confirma a regra, não há maiores caminhos para percorrer. Imbuída desse sentimento, Maria Lucia Meira Clemente não enxergou outro caminho senão o da Educação para descobrir novos mundos e expandir os conhecimentos.
Filha de um pedreiro e de uma servente escolar – que durante anos trabalhou como empregada doméstica – a jovem de 24 anos recém completados sabia que podia chegar mais longe. E isso era algo que seus pais sempre a ensinaram a persistir. Nascida e criada até a adolescência em Lorena, cidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, a paulista não se esquece das lições aprendidas dentro de casa. “Minha família é pobre, mas eu sempre tive uma estrutura familiar muito boa e meus pais sempre (foram) preocupados com educação”, conta ela.
Numa sociedade desigual e racista, Maria aprendeu desde cedo que para pessoas de pele escura como ela o único elemento de ascensão e privilégio se dá através de lápis e livros. Ciente de tudo isso, terminou seus estudos, mas ainda faltava a faculdade. Porém, no famoso período de “entresafra” que demarca a saída da adolescência para a juventude (ou vida adulta), a responsabilidade – e as contas – bateram na porta e sem empregos na sua cidade, não restou outra saída. “Depois de Lorena eu fui pra São Paulo quando eu me formei no ensino médio. Porque na minha cidade não tinha muito emprego e a minha mãe é de São Paulo, então tenho muitos familiares lá”, explica ela. Durante um ano sua rotina na capital paulista foi de muita ralação, mas sempre com o desejo latente de alçar novos voos.
Comunicativa, sabia que queria cursar algo justamente em Comunicação Social. Só não sabia por qual nicho seguir. Mas aí veio o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma aprovação e a certeza de uma mudança – literal – em sua vida. “Aí depois de São Paulo, eu passei no ENEM pra estudar na UFF (Universidade Federal Fluminense), em 2014. Não (era ideia vir pro Rio), na verdade, eu queria cursar em São Paulo mas o que acontece: SP só tem duas universidades, eu acho, públicas que na época aceitava o Enem pra Jornalismo e Comunicação que é o que eu queria. Acho que era só a Federal de São Carlos, na verdade, porque na época a UNICAMP e a USP não aceitavam Enem. E aí, mais perto pra mim, além de São Paulo era o Rio. E quando eu passei pra cá numa universidade pública eu vim. Não podia deixar essa chance”.
Vida no Rio de Janeiro
“Assim, num primeiro momento foi de deslumbre, tanto com a cidade que é maravilhosa no Rio, como Niterói que também é maravilhosa, mas depois que passou esse momento e bateu a realidade eu fiquei ‘meu Deus isso aqui é muito caro. O que eu vou fazer pra viver? O que eu vou fazer pra comer? Onde eu vou morar? Como é que meus pais vão continuar me mantendo?’. Aí eu já comecei a entrar em desespero. Primeiro eu fui pra república, república mesmo sabe. Morava com 17 meninas. Uma pessoa tinha uma casa e colocava ali o máximo de beliche que ela conseguia e aí alugava para as pessoas. Então foi mais esse estranhamento. Porque até então eu morava num bairro de periferia lá no interior, numa cidade muito simples”, explica Maria sobre o choque de realidade sofrida com a mudança.
Segunda integrante da família a cursar ensino superior – seu irmão foi o primeiro – ela sabe do peso que sua estadia no Rio de Janeiro representa para além da sua vida profissional. “Ah sinto, (uma responsabilidade) muito grande. Até porque meu pai é pedreiro e minha mãe era empregada doméstica, depois passou pra servente escolar. Mas assim, você tem toda aquela projeção dos seus pais em cima, mas não é nem por mal. Eles querem seu bem, eles não querem que você tenha que passar pelas mesmas coisas que eles passaram. Então eu senti e sinto esse peso sim ainda, mas por um lado me motiva. Por um lado pressiona porque tem aquele medo de falhar, mas por outro é impulsionador”.
Morte da mãe
Mas o que Maria Lúcia não poderia esperar era que nesse meio tempo o destino lhe pregasse o mais duro golpe de sua vida: a perda de sua mãe. “Minha mãe era minha maior impulsionadora. Foi a pessoa que impulsionou meu irmão a entrar na universidade, eu também, meu outro (irmão) a fazer um curso técnico. E minha mãe era essa figura assim: uma mulher negra, chefe de família, que botava a cara mesmo e fazia tudo para os filhos. Então me desestabilizou bastante, até porque eu já estava aqui, fiquei em depressão uma época, mas é engraçado essa coisa porque desistir nunca passou pela minha cabeça”, diz ela. E completa: “Mas por outro lado eu pensava que minha mãe morreu e eu tenho certeza – quer dizer, certeza não, pode parecer um pouco pesado isso – que se minha mãe fosse uma mulher branca de classe média, ela não estaria morta. Porque ela não teria gastado a saúde dela esfregando o chão da casa dos outros. E ainda que ela não me veja aqui eu vou me formar porque é o único jeito”.
Negritude e Racismo nas Universidades
“Lorena é uma cidade bem branca, do ciclo do café. Bem branca e bem racista até certo ponto porque foi a parte ali de desenvolvimento da cultura cafeicultora bem forte. Então tipo assim, tem muita gente branca. E não tinha muitas essas discussões de questão racial. Eu lembro que no ensino médio eu já me colocava a favor dessas questões como das cotas e eu era escorraçada em sala de aula, pelos meus professores também”. São com essas palavras que a universitária resume, desde cedo, algumas das intempéries mais marcantes vividas numa cidade sem representividade de outros pares negros.
E isso foi um dos pontos que mais chamaram sua atenção, positivamente, quando chegou na Cidade Maravilhosa. “Então, quando eu cheguei aqui, eu notei que tem muito mais pessoas negras no Rio de maneira geral e parece que tem ciclos da negritude. Não só culturais como festas, mas movimentos de debates. Enfim, parece que tem uma cultura negra – tenho certeza, aliás – muito forte e eu sinto de maneira geral uma empatia entre a população negra aqui. Meio que se vê como igual e de se ver majoritariamente como parte de uma parcela da população. Lá (em Lorena) eu não via muito isso”.
Mas nem tudo são flores. Apesar da população brasileira ser, majoritariamente, formada por pretos e pardos – conforme classificação do IBGE – essa população continua invisibilizada dentro da Academia e outras instâncias superiores. Atenta a essa subrepresentação, Maria afirma que a presença de corpos negros como o seu em universidades públicas incomoda e o racismo se faz presente no dia a dia. “Porque pro racismo se manter ele sempre precisa desse olhar assim de não igual, de anular suas subjetividades e te encaixar numa coisa. Mas eu acho que é mais isso diretamente de ofensa racista. Academicamente dificulta de querer trazer as suas pautas, trazer questões da população negra e não ser ouvida, como até essa questão de não se ver no curso. Hoje até aumentou, mas quando eu entrei eram realmente poucos alunos negros e muita pouca discussão sobre isso de maneira geral, referências negras e de se trabalhar com isso. Acho também que de maneira geral as universidades não são um ambiente de acolhimento. Quando eu falo assim parece que eu tô falando de classe, mas pra mim eu tenho a visão de que raça estrutura classe. Então, a própria coisa da universidade não ser um ambiente de acolhimento tanto para pessoas negras quanto para pessoas pobres, no geral, é uma postura racista. É uma postura que vai sendo racista e vai se reproduzindo na questão da representatividade, de você não ter referências nenhuma no curso. Até coisas institucionais mesmo de você não ter bolsistas negros, você não tem monitores negros. Não é uma preocupação deles da universidade. E quando você vai pautar isso é ‘shhh, fique quietinha’ e vai pra debaixo do tapete”, critica.
Por isso sua postura sempre mostrou-se combativa ante as violências estruturais de uma sociedade em que ‘a carne mais barata do mercado é a carne negra’. Mulher, negra e jornalista são três interseccionalidades que atravessam sua formação acadêmica, mas segundo a jovem, apesar de já ter se preocupado muito com o período pós-formação, hoje em dia prefere acreditar que suas capacidades são maiores do que o colorismo de sua pele para seguir adiante. “É muito engraçado assim, porque a minha primeira oportunidade de estágio foi na Secretaria Municipal de Assistência Social e foi com uma vereadora negra, porque ela quis me dar oportunidade. Porque essas pessoas sabem que não nos são dadas oportunidades de maneira geral, entendeu? Isso é empático. E depois disso eu fiquei três anos procurando, sabe. E eu tenho experiência em organização de eventos”.
E complementa.“É engraçado porque o racismo mexe com a sua cabeça que você pensa assim ‘gente, não é possível. Eu acho que eu sou isso mesmo, eu não sou boa. Eu não sou qualificada’. Quando, no fundo, você sabe que é qualificada. E a gente fica com medo de falar que é qualificado pra não parecer prepotente, mas eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou porque eu tinha experiência em organização de eventos, eu ganhei um prêmio de jornalismo da Universidade Federal Fluminense e assim, também tenho experiência em curta-metragem. Porque quando as pessoas olham pra você e vê que sua pele é negra, ela não vê você. Elas veem todo o estereótipo que está projetado em você. Pra mim, acho que mesmo depois de racialmente consciente, o mais difícil do racismo é isso: saber que as pessoas vão olhar pra mim e não vão ver as subjetividades. De maneira geral, elas vão ver o que elas projetam ali. É uma mulher negra, uma mulher negra barraqueira, favelada, ‘então obviamente essa mulher não pode ser a imagem da minha empresa. Como essa mulher vai ser a jornalista da minha empresa? Não, eu quero uma jornalista e mulher. E uma mulher é uma mulher. E uma mulher negra é mulher negra, porque é assim que a gente é colocada. Então me preocupa sim, me preocupa muito. Mas eu já fiquei muito desesperada por isso. Hoje eu tô assim, a gente vê cada vez mais a população negra se articulando e eu sei assim que eu vou me virar e vou produzir. E eu sei que, infelizmente, é uma merda porque a gente que é minoria – de maneira geral – tem que provar três, quatro vezes mais que é melhor ou que é igual. Ou fazer cinco vezes mais pra ganhar três vezes menos. Mas eu sei que de um jeito eu vou conseguir sim e não me preocupa mais tanto porque eu sei que vou dar um jeito estando no Rio”, ressalta.
Feminismo
E a força de suas palavras, aliada as suas atitudes, urge e se estende do início ao fim com a força do Feminismo. Movimento identitário de busca pela equidade de gênero, nem sempre seus objetivos são compreendidos e seu conceito é admirado. “Eu acho que (o conceito é desvirtuado) porque reverte a uma ordem, uma lógica de sociedade que a gente tem de uma cultura patriarcal, desde não sei quando. Eu acho que as pessoas acabam, às vezes, subestimando isso. Essa cultura patriarcal da estrutura familiar, é homem e mulher. Porque o nosso pilar social da cidadania contemporânea foi construído nisso, nessa relação. Uma coisa que mexe com o senso de moral delas, de tudo, de como as coisas devem ser. É lógico que como todo movimento também tem suas contradições e isso pode ser usado, às vezes, de uma maneira negativa”.
Contradição também existe dentro do próprio movimento. Apesar do sentimento de sororidade (apoio mútuo entre mulheres, basicamente falando), segundo Maria, “existem as mulheres negras, existem as mulheres LGBT’s, as mulheres Trans, as mulheres pobres. Então é impossível também um movimento representar todas as mulheres”. E é daí que nasce o desdobramento feminista pautado na questão interseccional que atinge as mulheres negras: o Feminismo Negro. “É porque nos últimos anos a gente teve um avanço, realmente, em algumas pautas em relação as mulheres universais, principalmente de conhecimento em relação ao que é feminismo. Mas ao mesmo tempo que as mulheres se reivindicam dessa forma e com toda a razão, elas não param e ‘peraí, mas como as mulheres negras estão nesse sentido?’. Porque passa a ser uma vivência unificada de mulher e a gente sabe que a figura da mulher é de uma mulher branca, heterossexual, cis. E aí as mulheres negras tão aí pra confrontar”, explica.
Solidão da Mulher Negra
Pouco falado, mas muito vivenciado. Realidade que não se pode esconder, mas ninguém reconhece. É dessa forma que a mulhere negra encontra-se em meio a diversos dilemas e questões, especialmente no que tange a (falta de) afetividade e valorização de seus corpos – para além da hipersexualização, conforme pontua a estudante de Jornalismo. “Namoro há dois anos, (mas) ele é o meu primeiro namorado que eu tive com 22 anos. No ensino médio eu sempre vi minhas coleguinhas brancas namorando e eu nunca namorei assim. Sempre fui aquela de chamar pra fuder (sic) rapidinho. Lógico que a gente tem que se apropriar do nosso corpo mesmo, mas de uma maneira de que o meu corpo negro é percebido diferente do que o corpo de uma mulher branca. Então assim, essas coisas da solidão, do preterimento, da hipersexualização sempre é uma coisa muito presente. E eu também acho que essa questão da mulher negra, da solidão, é uma coisa muito mais da urgência estrutural. Dessas mulheres serem abandonadas com seus filhos, dessas mulheres serem abandonadas quando vão pra cadeia, dessas mulheres terem que arcar com as responsabilidades e pressão psicológica de tudo, de como vão se sustentar e sustentar os filhos. Enfim, em relação a isso tudo. Eu me pego pensando nisso sim, às vezes. Mas, sei lá, eu acho que é real sim e eu tenho muito medo de adoecer sozinha e de envelhecer sozinha. Mas eu acho também que ultimamente tem tido muitos laços entre a gente. Entre nós mulheres negras. Entre os homens também, mas é mais entre as mulheres negras mesmo e eu fico um pouco mais positiva em relação a isso”, contemporiza.
Relacionamento Não Monogâmico
E quando o assunto é afetividade, fatalmente, questões como a prevenção perpassam por sua cabeça. Apesar de nunca ter tido espaço dentro de casa para debater questões como sexo e sexualidade. “Embora minha família não seja muito religiosa, nessa parte sempre foi conservadora sim. Então sexo era uma coisa que não se falava dentro de casa. Meu pai sempre falava que se eu engravidasse ia ser um desgosto pra família, então sempre foi um tabu dentro de casa. Eu nunca abordei e nunca falamos nada. Nem mesmo com minha mãe. Inclusive, quando minha mãe soube que eu perdi a virgindade foi um escândalo, foi meu Deus do céu! Parecia que eu tinha matado alguém”.
Mas junto com o início de sua vida no ensino superior, já no Rio de Janeiro, veio o interesse por tomar as rédeas de sua vida sexual com mais propriedade. “Mas aí depois, quando eu entrei na UFF, eu tive uma fase de querer me descobrir sexualmente e aí nesse período, majoritariamente, eu não uso pílula anticoncepcional – primeiro pelos efeitos que eu nunca gostei que causavam em mim mais nova e depois entrando na universidade e tendo mais acesso as questões todas, eu não quis usar”. E essa característica de não uso da pílula é o que a faz pressionar-se, justamente, para prevenir-se mediante ao uso do preservativo. Mas reconhece que nem sempre é uma decisão fácil. “Porque, enfim, não vou mentir: até hoje eu não gosto muito de usar camisinha. Não sei se todo mundo gosta. Acho mais prazeroso o sexo sem camisinha. Mas como eu sei que até por uma questão das doenças e também da gravidez, que eu não tô planejando agora, então eu uso camisinha até hoje no meu relacionamento”.
Adepta de um relacionamento não monogâmico, Maria Lucia fala que os acordos firmados com seu companheiro é o que faz a diferença durante suas relações sexuais, com ou sem parceiros ocasionais. Além da confiança. “O que acontece: meu namorado e eu temos um relacionamento não monogâmico. Então quando a gente começou a namorar a gente pensou “vamos namorar assim? Como vamos namorar?’. A gente vai namorar podendo ficar com outras pessoas. Tá, então a prevenção tem que ser uma questão crucial aí. Tanto no relacionamento com outras pessoas, como com a gente. Até porque eu não tomo pílula e não queria engravidar. E hoje assim, quando nós transamos com outras pessoas – falando por mim – eu uso camisinha e acredito que ele também, porque temos uma relação de bastante confiança, uma relação de dois anos, mas obviamente não dá pra saber sempre e entre a gente também usamos camisinha pela questão até do contraceptivo”. E completa: “Mas não vou mentir: às vezes a gente transa sem camisinha, até porque são dois anos de relacionamento. Mas nem sempre também a gente transa com penetração, nem sempre usamos camisinha, às vezes usamos camisinha e nos relacionamentos pra fora, também”. Mas sempre foi tranquilo lidar com esse tipo de relacionamento?. “Foi um processo até eu entender que ele estar com outras pessoas e dele também entender essa questão do ciúme, de ‘não, ela vai estar com alguém e ela vai se apaixonar por essa pessoa e não vai me querer’ e aí a gente foi vendo que cabia melhor ou não cabia conversando quando sentisse ciúme ou mal por alguma coisa. E hoje as coisas estão fluindo bem. Tipo, a maioria dos problemas que a gente tem no nosso relacionamento são por outras questões que não a monogamia”, responde ela.
Outro interessante ponto de seu relacionamento é a bissexualidade praticada ambos. “Então, meu namorado é bissexual e eu também até então também.. É que eu me definia como bissexual. Hoje eu não me defino como bissexual porque eu entendi que, majoritariamente, em minhas construções de gosto – eu não sei até onde isso entra na heterossexualidade compulsória e onde não entra. (Então) hoje em dia eu não me defino mais. Mas eu sinto atração pelas pessoas de maneira geral. Eu sinto atração por mulheres também. É, seria próximo da pansexualidade, mas por outro lado, eu me relaciono majoritariamente com homens. O meu namorado é bissexual e ele é mais bem resolvido com a bissexualidade dele. Até porque eu tenho impressão que a bissexualidade feminina é mais aceita – até com todas as ações de sexualização, daquela fantasia – do que a bissexualidade masculina”.
Mas apesar da especificidade de seu namoro, ela faz questão de frisar uma importante diferença entre os novos arranjos possíveis existentes. “A gente é não monogâmico, mas a gente não é poliamorista. Amar, um ama o outro, mas a gente pode ter relações casuais com outras pessoas. E ele é mais bem resolvido com a bissexualidade dele, fica com homens e mulheres, e eu geralmente fico mais com homens”.
HIV/AIDS
Atual estagiária de comunicação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), Maria afirma que antes do trabalho na instituição o HIV e a AIDS – especialmente após o início da vida sexual – sempre foi uma preocupação e motivo de atenção. “Sim, pra mim sempre foi uma preocupação, até porque quando eu cheguei em Niterói tinha o Grupo Pella Vida Niterói e ficava em frente da UFF, então eu fui conhecer, fiz ali um teste e na época deu sorologia negativa. Depois a prefeitura de Niterói, eu não sei se era a prefeitura, mas tinha aquelas vans ambulantes que ficavam na UFF e aí quando comecei a namorar e tal, a partir do primeiro sexo sem camisinha, já que a gente pode vir a repetir isso e decidimos que nosso relacionamento não será monogâmico, aí a gente foi fazer os testes juntos pra DST. Atualmente, fecharam esses dois centros de testagem de Niterói. Eu não sei onde que tá fazendo, na verdade. Mas eu tô bem preocupada e quero fazer novamente. E ele quer fazer novamente. Porque é bom você ir fazendo né. Acho que depois que eu vim trabalhar na ABIA também fiquei mais atenta a essa questão e tô procurando pra fazer. Mas a gente pensa nisso sim”.
Negociação do uso da Camisinha
“Eu acho que isso tem a ver com a construção do gênero(não conseguir negociar uso da camisinha), da mulher sempre não conseguir dizer não. Ou não conseguir se impor na relação, porque é isso. Não sei. Pensando nas vezes em que eu transei sem camisinha: tirando as vezes em que eu quis transar sem camisinha, eu fiquei – sei lá – com vergonha. E às vezes até a mulher com acesso à informação a gente fica com vergonha de assumir que tem vergonha, eu não sei porque”, atesta ela.
Já sobre se o uso da camisinha feminina em relações onde o parceiro não queira utilizar a masculina possa auxiliar e empoderar as mulheres, nesse sentido, Maria não mostrou-se muito confiante. “Eu acho que, sinceramente, não ia fazer diferença. Porque eu acho que o homem, ainda assim não ia querer a camisinha feminina. ‘Não, vamos meter sem camisinha porque sem camisinha é mais gostoso’. Até porque a camisinha feminina ela fica visível, não tem como você colocar e a pessoa não ver. Em algum momento aquilo fica visível”.
Infecção entre Jovens
Com relação ao número cada vez maior de jovens e adolescentes infectados pelo vírus HIV no Brasil, a jovem elenca alguns fatores que contribuem como vetores de vulnerabilização. “Eu acho que tem a ver também que ao mesmo tempo que houve uma diminuição do estigma, não acabou. Ao mesmo tempo que o jovem tem acesso a informação, mas a gente não discute. Não fala sobre isso entre a gente. Não é comum. Não é comum você se testar para o HIV. Não é comum você discutir com amigas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Não só HIV, você pode ter uma DST e ficar ‘ai meu Deus que vergonha. Estou com uma doença aqui e não vou contar pra ninguém senão vão pensar uma coisa horrível de mim’.
“A gente não discute sobre isso, não fala sobre isso entre a gente, não se apodera desse conhecimento e dessa informação, não se sente à vontade pra falar nem entre jovens quem dirá com nossa famíla e os médicos. Eu não me sinto a vontade pra falar 100% sobre minha sexualidade com os médicos. Eu me sinto julgada.”
É por isso que instituições como a ABIA e projetos como o Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens tornam-se importantes.“Eu acho que pode ser um aliado, principalmente, em incluir os jovens. Eu acho muito importante a ABIA e o Projeto permite que a gente tenha com outros movimentos organizados feministas, movimento negro fazer com que essa informação da pauta do HIV e da AIDS entre em circulação pra que a gente possa debater isso e fazer as pessoas falarem sobre isso. Não que a gente não tenha que falar, até porque o papel é informar, mas eu acho que fazer esse conhecimento circular. Eu acho que nesse momento conservador é muito importante. Porque tá todo mundo desanimado e se ninguém falar aí que a coisa vai desandar de vez. Eu acho que, por exemplo, se essa entrevista, se essas matérias do projeto chegar a dez pessoas, talvez essas dez pessoas achem – sei lá – ‘tem alguém lá como eu que pense assim’. Pra gente não se sentir tão pequeno, tão enfrentando isso sozinho. E pra fazer com que continue porque já atuando talvez não continue, se a gente desistir aí é que as coisas não vão (pra frente) ”, pontua.
Maria ainda finaliza sua fala citando a mais nova publicação da ABIA intitulada “Sexo Mais Seguro: Um Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde no Século 21”. Para ela, o material apresenta características ímpares, pois “trabalha em cima da realidade, não só das imagens que mostram corpos reais e suas imperfeições, mas também buscando na medida do possível dar orientações de acordo com a forma como os jovens estão vivendo e praticando a sua sexualidade”.
Futuro
Pé no chão, em suas palavras, “é tão difícil de falar em perspectiva de futuro. Agora mesmo, poxa, ano que vem quero tentar um mestrado, mas eu só posso tentar mestrado com bolsa. Vai saber se até o ano que vem vai ter bolsa. Porque a gente só vive assim. Você fazer projeção pra dois meses é fazer projeção a longo prazo, porque não dá mais. Tem que projetar pra semana que vem. E olhe lá”.
Mas apesar do cenário incerto, a esperança reside. “O que eu planejo é me formar, conseguir um emprego na minha área e, principalmente, continuar articulando desde que eu cheguei aqui, conhecendo pessoas, articulando com movimentos de minorias e movimentos sociais. E eu quero trabalhar com isso profissionalmente. Quero conseguir, como jornalista, pautar essas questões e que juntos a gente consiga todas as pessoas com suas subjetividades, LGBT’s, pessoas negras, portadores de HIV, pobres, enfim. Porque ninguém é só isso. É isso e um milhão de coisas. E que a gente consiga ter força juntos, porque eu sei que sozinha não vai dar”.
Texto: Jean Pierry Oliveira