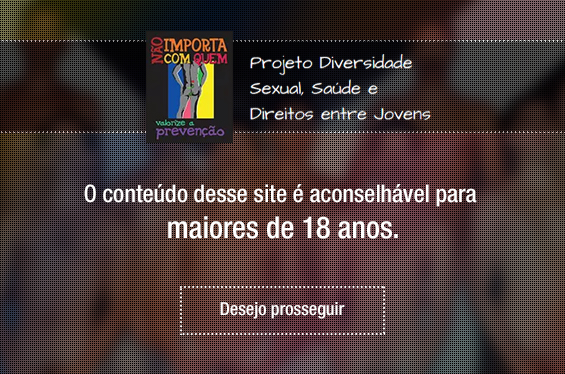Se o dito popular afirma que os olhos são os espelhos da alma, certamente esta deve ter sido originada a partir de uma das mais reconhecidas ciências humanas: a Psicologia. Se o pai do segmento se chama Sigmund Freud e seus conhecimentos difundiram-se principalmente pela Europa e EUA, ecos de seus ensinamentos também encontram-se sendo reconhecidos e trabalhados com afinco em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Se o dito popular afirma que os olhos são os espelhos da alma, certamente esta deve ter sido originada a partir de uma das mais reconhecidas ciências humanas: a Psicologia. Se o pai do segmento se chama Sigmund Freud e seus conhecimentos difundiram-se principalmente pela Europa e EUA, ecos de seus ensinamentos também encontram-se sendo reconhecidos e trabalhados com afinco em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Aos 26 anos, Phillipe Rocha encontra-se próximo do final da graduação que realiza na Universidade Federal Fluminense (UFF), na vizinha cidade de Niterói. Entre greves, jubilatos e problemas pessoais que interromperam por um certo período seu ensino superior, o carioca afirma que a Psicologia entrou por uma acaso em sua vida. “Eu nunca quis fazer psicologia. Eu sempre quis fazer Astronomia durante a infância toda. E na adolescência eu tive uma professora muito boa, a Márcia. Acho que ela já faleceu. Era minha professora de Filosofia no ensino médio e quando eu conheci a Filosofia o meu mundo virou assim, abriu um leque. Parece que abriram uma janela pra mim. Sócrates foi muito complicado naquela época (risos), mas foi bem legal. Mas em um dado momento eu precisei de ajuda, aconteceu algum caso – eu não lembro mais – que me gerou várias coisas emocionais na escola e eu acabei indo parar nesse serviço de orientação e ela me acolhe. E quando ela me acolhe ela fala que é psicóloga e eu fiquei tipo ‘como assim, você é psicóloga?”, conta ele. E completa: “E eu não tinha imaginado. Não tinha direção nenhuma. Não sabia se eu fazia ENEM, vestibular, se continuava trabalhando e botei lá no SISU (Sistema de Seleção Unificada), na época, e apareceu que eu tinha nota. Aí eu falei ‘porque não?’. Porque eu vi que Filosofia realmente não dava, eu não teria mercado de trabalho. E eu achei que a Psicologia seria o filósofo prático. Um filósofo que dá uma certa direção, não fica só no mundo das ideias. Aí eu tentei e tô (sic) lá até hoje”, resume.
Mas se por um lado a praticidade imaginada no mercado de trabalho foi um caminho encontrado para seguir adiante, por outro nem tudo foi como imaginou ao adentrar na Academia. Apesar de mostrar-se grato à universidade – “eu agradeço muito a UFF pelo meu processo de formação que eu passo, não só pelas disciplinas” – Rocha reconhece que há muitos processos estruturais que excluem e dificulta a presença de determinados corpos na universidade. “(Tive) muitas dificuldades nesse processo de formação, até por conta dos horários mesmo. É uma graduação construída pra (sic) pessoas não pobres, não negras também – e eu coloco aí a questão do racismo institucional – porque quando você constrói um curso com horário integral, numa região universitária que se localiza na zona sul da cidade que é caríssima pra você se se alimentar, pra você se transportar – por exemplo – você tá selecionando as pessoas que vão entrar ou que vão permanecer nesse curso”, critica.
Racismo Institucional
Sobre o chamado racismo institucional citado acima, para o jovem, a questão é estrutural e histórica. “A Psicologia ela nasce como ciência, como o estudo da alma. Sendo que a população negra era uma população desalmada até o século 19. Daí você já pressupõe que é uma ciência que foi não construída para cuidar, para entender, para se referir mesmo, direcionar a essa população. Uma das justificativas para a escravidão – justificativas inclusive filosóficas, espiritual, religiosa – eram que as pessoas negras, os africanos eles não tinham alma. E se eles não tinham alma eles seriam meros objetos. E até hoje a gente carrega isso. A nossa subjetividade ela é baseada, a forma como a gente pensa e entende o mundo é afetado pela questão histórica, social e o contexto em que você está inserido. E a gente tá inserido num país que ainda mantem estruturas muito bem organizadas de onde a branquitude tem acesso, de onde a negritude tem acesso, se os dois tem acesso ao mesmo local ou ao mesmo patamar. Tem posições diferentes nesse acesso”, contextualiza ele com propriedade
E ainda completa dizendo que “não é que as cotas colocaram a população negra na universidade, ela já tava (sic) lá. Mas ela tava como auxiliar de serviços gerais, como porteiro, como os pedreiros que construíram todos aqueles prédios – porque eu duvido que eles eram em sua maioria brancos. Então é uma questão histórica mesmo”. Apesar desse dilema, atualmente, o curso de Psicologia em sua universidade já conta com mais alunos negros e também contempla disciplinas que focalizam questões e vicissitudes voltados à população afro-brasileira. Mas ainda com resistências. “Após a (lei) 10.639 de 2003, que é a lei que torna obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileiras nas instituições educacionais públicas e particulares no nosso país começa uma ideia de que essa lei deveria chegar no ensino superior. Porque era uma lei ainda muito empregada só no ensino médio, pouco no ensino fundamental etc. Então começa a surgir algumas pequenas disciplinas que não eram necessariamente optativas. E foi uma batalha mesmo para tornar ela obrigatória, para que todos os alunos de Psicologia passassem por essa disciplina e debatesse o racismo estrutural, o racismo institucional, intolerância religiosa e os impactos direto na vida das pessoas negras no nosso país. E até hoje muita gente ainda torce o nariz e fala ‘eu acho um absurdo eu ser obrigado a falar de macumba, a ficar ouvindo que Exu e não sei o que, que isso pra mim não é Psicologia, não é ciência. Eu acho que estão exagerando”. Eu fico ok. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz que essas pessoas tenham que passar por isso. E que o racismo vai afetar ela de alguma forma, mesmo que seja criando essa resistência. Isso já diz muito de quem tá ouvindo. Mas eu ainda sinto que a Psicologia tem uma dívida muito grande com a população negra no Brasil e no mundo também. Porque ela é uma ciência muito colonizada ainda. É uma ciência muito europeia”.
São Gonçalo
Ourindo da segunda cidade mais populosa – e uma das mais carentes – do estado, Phillipe afirma que o local “tem tudo pra dar certo, mas falta força de vontade dos governantes. São Gonçalo sempre foi um patinho feio em que ninguém queria ir ou então era tipo “ah você mora em São Gonçalo? É parte de Niterói?”, então ficava sempre nessa invisibilidade. Mas sempre me foi um lugar muito acolhedor”, diz ele.
Atualmente, porém, o verbo acolher cedeu espaço para o verbo recolher no dia a dia dos moradores. “Hoje em dia você não pode mais ficar na rua. Então eu me sinto muito enclausurado. Hoje em dia você tá na rua em São Gonçalo sendo negro, pobre e você frequentar os lugares, ir nas praças, festas na rua, dar um passeio, fazer um lanche na praia das Pedrinhas, é militância. É militância porque você tá (sic) se colocando num lugar que não querem que você esteja e que você não pode estar. Porque pra trabalhar, pra estudar, pra voltar pra casa, pra me divertir, pra qualquer outra coisa eu tenho que pensar na hora de voltar, eu tenho que pensar em como eu vou voltar, se eu vou voltar sozinho, se eu vou ter dinheiro pro Uber. A gente já não sai com dinheiro certinho, tem que ter sempre um pouco a mais. Se não tiver, não sai”, resigna-se ele em evidenciar a questão da Segurança Pública como um verdadeiro calcanhar de Aquiles em sua rotina – não muito diferente de qualquer outro carioca da região metropolitana.
Família
Na cidade, morador do bairro da Trindade, Rocha reside com sua mãe e seu irmão. Apesar de poucos integrantes na residência, às vezes, o clima se instabiliza e nem sempre a convivência torna-se a mais vindoura possível. “É uma relação possível (com minha mãe), não vou dizer tão íntima, mas possível por ‘N’ fatores. Desde discordâncias de como levar a vida, de escolha profissional, sexual – digamos assim, porque não é uma escolha. Então a gente tenta conviver bem na base do respeito, mas um respeito muito que acaba sendo frio de vez em quando”. Segundo o jovem, pesa nessas discordâncias uma questão perene a inúmeras casas atualmente: o conflito de geração entre pais e filhos.
“Eu acho que acaba aparecendo todas essas questões porque vai de uma ideia de faixa etária mesmo. “Ah, na minha época não era assim” ou “de onde eu vim não tinha isso” ou então “o mundo hoje está de cabeça pra baixo, ele tá mudado” etc. Então essa relação geracional é muito grande, o conflito geracional acaba sendo muito grande. Mas a gente vai tentando se adaptar aos poucos no que dá. Principalmente nas questões hoje em dia que a gente tem como cotidianas enquanto jovens como liberdade sexual, liberdade entre aspas, a possibilidade de você não precisar constituir família tão cedo. Você não precisa casar, você não precisa ter filhos. O que hoje é escolha, na época dela era consequência conforme a idade ia passando”, explica.
Mas ele sabe que além desse “gap” geracional existe uma outra questão que, por vezes, difulta o diálogo e causa ruídos na comunicação. “Certamente (a relação seria melhor se minha sexualidade fosse diferente), tanto que quando as pessoas perguntam se eu sou – com muitas aspas – “assumido” (“eu odeio esse termo porque ninguém precisa assumir nada, porque isso não é um crime”) pra minha família ou pra minha mãe, eu sempre falo que eu não tenho que assumir porque eu não escondo nada. Mas eu também não preciso ficar me declarando o tempo todo. Então por exemplo, se eu sei que isso vai machucar, de certa forma, a minha mãe – tipo quando passa um beijo gay na novela (risos), famílias homoafetivas tanto de mulheres quanto de homens, enfim, coisas que já existem há milênios, mas está passando na televisão – (eu evito) tocar (no assunto). Ainda é um tabu”, confidencia.
E no que tange ao papel de seu pai em sua vida, sem titubear, mas com a fala pausada ele revela que “ (quando) meus pais se separaram eu tinha uns cinco, seis anos e hoje em dia a gente não tem mais contato. Ele acabou constituindo outra família”. Mas que mesmo com visitas esporádicas quando criança a lacuna pela ausência existia. “Eu acho que fez falta mais em épocas específicas, datas comemorativas como o Dia dos Pais, datas que o capitalismo e o comércio enfiam goela abaixo da gente e que quando você está na idade escolar, quando você tá em meios comunitários como a igreja, enfim, associações e etc, você acaba se comparando com os outros e sente uma falta. Então, já foi motivo de muita dor, mas hoje em dia foi muito bem trabalhado na terapia também. E eu diria que eu não sinto mais falta porque eu consegui ampliar a minha visão sobre o que eu já tinha e valorizar mais o que eu já tinha”.
Trabalho
“Hoje em dia eu trabalho como redutor de danos, numa equipe de consultório na rua em Niterói, e no CAPSad (Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas) lá em São Gonçalo. Eu trabalho atendendo pessoas que fazem uso abusivo e/ou prejudicial de álcool e outras drogas e que estão em situação de rua ou não, porque no CAPS não necessariamente atende só população em situação de rua. Trabalho em cenas de uso, as mal faladas cracolândias – ‘que é um péssimo termo’ – e nas vias da cidade com as pessoas que acabam precisando morar ou utilizar como moradia a rua. Nesse consultório na rua eu tô, nessa equipe atual em Niterói, seis meses. E no CAPSad eu tô (sic) fazendo três meses, mas eu já era da rede anteriormente em São Gonçalo, da equipe de consultório da rua. (Tem) uns cinco anos já que eu estou nessa vida”.
Cura Gay
Péssimo termo também é o que chamam popularmente de “cura gay” e que nos últimos meses notabilizou-se por um cabo de guerra entre psicológos favoráveis e desfavoráveis ao “método”. Taxativo, Rocha afirma que “é uma questão muito complexa. Quando a gente fala de estudo da alma, de estudos da psique ou psiquê, a alma já é um conceito fundamentalmente religioso. As religiões traziam esse discurso moral muito forte entre certo e errado, bom e mau, um discurso moral dicotômico. E a psicologia carregou e carrega até hoje na sua base. Então essa questão da sexualidade hoje em dia, das ‘sexualidades ditas desviantes’, ela é ainda muito pautada principalmente por conta dessa ideia de estrutura, de que se você não segue determinado caminho você tá fora disso, é um desvio”, contemporiza.
E completa: “Somos uma práxis do cuidado. Então quando já fala em cura, curar louco, curar loucura, curar a homossexualidade, curar a dependência química e ‘N’ questões, eu já acho uma questão muito complicada. Mas eu fico sempre me questionando: como alguém que pretende estudar, conhecer, cuidar do outro não consegue acolher o outro em toda sua plenitude? Isso é muito complicado pra mim e a gente ainda tem muita coisa aí pra lutar e garantir direitos”, afirma ele ressaltando que o Conselho Federal de Psicologia tem em sua premissa o compromisso com os Direitos Humanos e a valorização e respeito à diversidade.
Religião
Diversidade também faz parte da história, origem e prática daquilo que o jovem não considera como uma religião, mas sim como “culto aos ancestrais”: o candomblé. “Eu sou candomblecista da nação Efon, que é uma das nações das casas de Candomblé. Desde a minha infância eu tenho essa aproximação com as religiões de matriz afro, primeiramente a Umbanda durante muito tempo da minha vida e (depois) pequenas incursões no Candomblé. E decido me iniciar já adulto com 22 anos. E o candomblé tem uma ideia de diversidade também muito grande. Nós cultuamos deuses de dois sexos, sexos biológicos – pênis e vagina. Nós cultuamos deuses de dois gêneros como Logun Edé, que tem uma lenda em que se a gente se baseia muito, em que seis meses do ano é mulher e seis meses do ano é homem. Nós cultuamos o feminino, as mulheres cis(gêneros). Nós cultuamos questões que pra sociedade eram – e ainda são de certa forma – mantidas em segundo plano, como estigmatizadas. Quando você coloca uma mulher, por exemplo, o matriarcado é muito forte no candomblé como com as Iás, as mães de santo. Elas têm uma decisão de poder que, em outras religiões de matriz judaico-cristão, elas são determinadas somente pra homens. Onde o patriarcado se apossa dessa gestão de vida e aplica na sociedade como um todo da superioridade masculina e essa lógica é quebrada, desconstruída no candomblé”, explica ele.
E são essas características, aliadas a um histórico de marginalização imputado por estigmas seculares, que na opinião de Phillipe sejam preponderantes para um acolhimento e identificação grande de LGBT’s com o candomblé. “Eu acho que o acolhimento se dá justamente por ser uma religião marginalizada também. Assim como as ‘’sexualidades desviantes’’, o candomblé e as religiões de matriz afro – historicamente – (sofrem) – por conta do racismo inclusive, porque temos que lembrar que o candomblé é uma religião negra e africana em sua origem, mas que obviamente passou por mudanças e processos históricos”.
Histórico esse que se adaptou a realidade sincrética brasileira, mas não foi capaz de conter o estigma, a discriminação e o preconceito sofridos por seus adeptos e faz da intolerância religiosa mais uma barreira diária a ser superada. Phillipe que o diga. “É mais uma violação de direitos que a gente pode sofrer. E um exemplo que eu sempre dou é que na época em que eu conheci a redução de danos, no meu estágio lá na UFF, eu estava de preceito. Tinha me iniciado, então tem todo um paramento, você tem que andar de branco, tem processo de raspar a cabeça, enfim, você fica com um carimbo. É um macumbeiro carimbado. Não tem como você dizer que não é. Aí nesse estágio lá no CAPSad, de Niterói, a gente fazia campus. Esses campus eram nas comunidades próximas, geralmente acompanhadas por equipes de saúde da unidade de saúde da família local, em cenas de uso ou visitando usuários do CAPS que moram nessas comunidades. E eu fui como eu ia pro CAPS e para outro lugares paramentado de branco, meus fios de conta, meu pano de cabeça e ao chegar no posto da unidade de saúde da família da comunidade, em Niterói, eu sou avisado na mesma hora por uma enfermeira de lá que eu não poderia subir no morro assim. Porque o traficante poderoso de lá ele era evangélico e tinha determinado que não haveria mais casas de candomblé e centros espíritas no morro. E que eu poderia sofrer algum tipo de coação ou violência. E aquilo me choca”, relata.
E completa: “mesmo assim eu falo ‘eu vou fazer o campo’, mas por segurança eu me desparamento. Tiro meus fios de conta, tiro meu pano de cabeça e vou só com uma blusa branca, calça e tênis que eu estava. E aquilo me doeu muito, me senti tão invadido naquele momento nas minhas decisões pessoais”, lamenta.
Relacionamentos e Padrões
Interseccionalizando três diferentes espectros em sua vida – ser gay, negro e candomblecista – Rocha sabe do estigma, hipersexualização e invisibilidade que o acompanha em determinados momentos. Um deles é no que tange a afetividade. “É muito complicado você se sentir no direito de ser amado ou no direito de amar assim(sendo hipersexualizado e/ou invisibilizado). Porque não é uma coisa natural, entre aspas, dada à nós gays negros ou negros gays. Porque o amor, teoricamente, seria algo que você viveria durante a vida, em dados momentos ou não. Não deveria ser algo que eu deveria me esforçar pra ter e, hoje em dia, é um esforço muito grande pra conseguir encontrar alguém. Ou pra conseguir ficar com alguém. Ou pra conseguir seguir com esse alguém e se encontrar no outro também”, pontua.
Segundo ele, isso começou a ser questionado por si também através do contato e engajamento com o movimento negro e coletivos dos quais faz parte. “Então eu comecei a questionar essa relação com a afetividade mesmo entre pessoas negras. Que é algo que não é dado, é algo que precisa ser reconstruído mesmo. São vínculos que foram rompidos. A gente não tem direito de se amar, nem de amar a si mesmo, nem amar os seus. É feio. Não é o padrão. É sofrido. Eu acho mais uma violência”.
HIV/AIDS
Enquanto redutor de danos dentro de sua atuação profissional com populações vulnerabilizadas Rocha sabe e conhece de perto a realidade e a importância de se tratar de questões latentes como o HIV e a AIDS. E reconhece ainda o quanto é conflituoso tratar da temática. “Eu não sei se o vírus em si, mas tudo que se construiu em volta dele, é central. Porque eu acho que a partir do momento que você começa a falar da sua sexualidade, de sua homossexualidade enquanto homem – e negro também – parece que quando você fala que é gay já tem uma cartilha debaixo do braço pra te dar sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis). É como se você fosse o vetor. E, ao mesmo tempo, é algo que é muito pouco falado. Porque é um tabu. Sexo é um tabu”, enfatiza. Tabu que começa a ser um muro de dúvidas e desinformação desde cedo e dentro de casa. “Pouquísimo (foram as vezes em que falei sobre sexo em casa). Cara, a gente se baseia nas mídias principalmente televisão, internet, pornografia etc. (É) como a gente é apresentado ao sexo pela primeira vez na vida, geralmente. E quando você põe em prática tenta construir uma identidade mais sua onde é possível, onde não é possível, o que você quer, o que você não quer, que é a sexualidade”, completa.
Atento aos sinais, ele sabe exatamente em que condições esse tabu se cria. E além daquilo que não se permite dialogar dentro de casa, a questão estrutural do estigma e do tabu também é reforçado pelas instâncias governamentais (ir)responsáveis. “É óbvio que tem várias questões estruturais do governo (para) não investir em informação, da (área da) saúde tomar como uma coisa de população específica e não da população como um todo. Porque você só precisa ter um corpo pra você ser infectado por qualquer coisa. Então essas populações são vulnerabilizadas, porque se produz essa vulnerabilidade nessas populações específicas, no sistema capitalista, mas isso não é difundido, não é espalhado”, explica.
Informação x Infecção entre Jovens e outras populações
E a mesma lucidez com que enxerga os problemas existentes para se falar e administrar o HIV, no que tange ao governamental, também fica visível em suas palavras no que diz respeito aos números crescentes e preocupantes de jovens e adolescentes infectados pelo vírus. Questionado porque isso ainda acontece, mesmo com jovens cada vez mais conectados e passíveis de obter uma informação com mais facilidade, ele rapidamente esclarece o que em sua opinião, de fato, acontece.
“(Continua aumentando o número de infecções) porque informação é um conceito bem complexo. É muito complicado falar sobre isso porque você tem um acesso – eu não diria nem acesso, eu diria um excesso de informação. E nesse excesso de informação acaba você não filtrando muito bem essas informações. E nessa muita coisa que entra, pouca coisa fica. É como se você tivesse na Times Square, em Nova York: você olha pra todo lado, é tudo propaganda. Ou seja, é tudo informação. Então é como se a Coca-Cola tivesse um prédio inteiro pra ela e o HIV vai ter uma tevezinha no cantinho piscando. E eu acho que isso é uma escolha política mesmo, porque eles não vão querer colocar HIV no prédio da Coca-Cola porque não vende. Não é atrativo. Não é sexy. Não é moderno. Não é essa linha do jovem descolado. Não é”, observa.
Novas Tecnologias de Prevenção
E como tornar o tema do HIV interessante? É isso que mais preocupa Phillipe Rocha em suas indagações – dentro e fora do trabalho. Se hoje a camisinha já não é mais cool entre os jovens, como fazê-los entender que a prevenção pode ser interessante? O advento de novas tecnologias de prevenção, como a PrEP (Profilaxia Pré-exposição), para o carioca pode vir a ser uma alternativa. Mas ainda falta muito para ser entendida e acessível para todos que dela precisam.
“Então, é muito interessante você perguntar isso porque tem muita informação, um excesso de informação, que as pessoas não estão sabendo filtrar sobre a PrEP. E dentre um dos preconceitos que falam sobre tem ‘ah, agora liberou geral. Agora que não vão usar camisinha mesmo.Tudo que esse povo queria’. Eu ouvi isso de um profissional de saúde. E uma das minhas questões (é): como tornar essa profilaxia atrativa? Porque não sei se pelo caminho da imposição vai ser bacana. Quando a gente convida o usuário para o serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), pra alguma coisa, você tá promovendo saúde”, acredita ele. E complementa dizendo que “o meu foco é muito em cima disso: de ofertar mais uma opção de prevenção e não, necessariamente, centralizar ela. Como já foi o discurso com o preservativo na década de 90 com ‘use camisinha, use camisinha’.
E o caminho para se quebrar esse discurso dogmático passa necessariamente pela educação. “A gente precisa falar dessas coisas em ambientes que não sejam apenas ambientes ou locais de unidades de saúde. É fundamental que isso seja um tema discutido na escola, na sua instituição religiosa, em praça pública. Falar de prevenção combinada e as questões da prevenção combinada não induz que a pessoa transe. O jovem que ganha preservativo na escola depois de uma palestra ou de uma aula de educação sexual, ele não vai usar aquele preservativo no minuto seguinte. Ele não vai sair da sala de aula e transar e se sair também a vida é dele. Isso também é um conceito da redução de danos: diante do uso inevitável, como podemos nos cuidar? Já que o uso vai acontecer como é que eu uso de melhor maneira? Já que transar vai ser uma questão, e é uma questão na minha vida, como transar de uma maneira mais saudável ou menos danosa? Eu acho que é nesse caminho”.
Importância do Projeto e do Guia de Sexo Mais Seguro
E diante desse caminho, cada vez mais difícil e tomado por decisões e ingerências conservadoras, é que iniciativas como o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) tornam-se peças chave no contexto. “Eu acho que quando uma ONG pode ter inserções em espaços comunitários, meios de comunicação de massa, quando vocês conseguem intervir na produção de conhecimento sobre aquela questão, é louvável. Porque senão a minha voz não vai alcançar”.
Futuro
A voz pode não alcançar, mas o pensamento voa longe e Phillipe é assertivo sobre onde quer chegar. “Eu quero deixar minha marca nos lugares onde eu passo, com as pessoas com quem eu troco. Eu sempre quis – não de uma maneira egoísta – fazer a diferença, de alguma forma, nos meios em que eu vivo. E eu espero que através do meu trabalho eu consiga fazer isso. Eu não conseguiria trabalhar com o que eu trabalho se eu não tivesse um ideal. Queria me formar, queria ganhar um pouquinho mais, queria ser mais reconhecido, queria que a redução de danos fosse mais reconhecida e divulgada. Queria casar, ter dois filhos e um cachorro e uma casa própria (risos) num lugar próximo do mar, mas acho que é isso. Eu quero viver, quero sobreviver, viver bem”, finaliza ele esperançoso.
Texto: Jean Pierry Oliveira