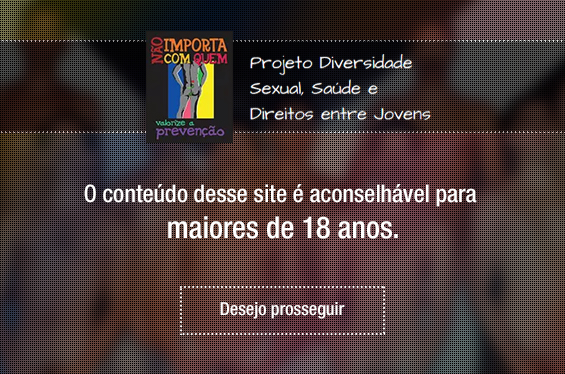O Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Centro de Porto Alegre, serviu de base para a pré-abertura do 2º Seminário Aprimorando III – Estigma, Pânico Moral e Violência Estrutural com a exibição do filme Borboletas da Vida, de Vagner de Almeida.
O Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Centro de Porto Alegre, serviu de base para a pré-abertura do 2º Seminário Aprimorando III – Estigma, Pânico Moral e Violência Estrutural com a exibição do filme Borboletas da Vida, de Vagner de Almeida.
Com a presença de jovens, universitários e ativistas o coordenador do Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos agradeceu a presença de todos ali – mesmo com a paralisação geral no Brasil nas universidades federais em protesto ao corte nas verbas públicas das mesmas – e afirmou que “o filme, apesar de ser de 2004, é muito atual. É um memorando acerca dos dilemas e opressões sofridos por muitos homossexuais em nosso sistema perverso, entre aqueles que vivem na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro”. E completou: “entretanto, a maioria dessas pessoas já estão mortas porque foram brutalmente assassinadas, em meio a tanta violência estrutural”, lamentou.
Após a exibição do filme, Almeida foi sabatinado pelos presentes acerca de tudo que foi visto. Indagado por um jovem sobre a forma como uma transexual é aceita mediante a classe social e a raça dela, o coordenador respondeu que “essas meninas borboletas da vida não falam sobre ir para a Europa. Falam sobre colocar um peito com as chamadas ‘bombadeiras’. Porque muitas vão para a Europa, mas tem uma vida difícil. E essas de Austin (em Queimados), do filme, entendem que não vai ser na Europa que elas vão viver. Mas sim naquele espaço, que é onde elas conseguem se defender e viverem juntas”. E complementou: “e as opressões e enfrentamentos pioram quando se é pobre, negro (a) e vivendo com HIV. Eu não sei como esse povo consegue (sobre)viver”, ressaltou.
Já para o universitário Wendell, o que lhe chamou a atenção foi “o pertencimento de território daquelas personagens. A relação delas com o lugar onde vivem ou nasceram foi o que mais me prendeu. E eu te agradeço por essa obra de arte”, elogiou ele. Outro importante relato de Vagner de Almeida sobre as filmagens diz respeito à violência com a qual as/os entrevistadas/os estavam expostas/os. “Tem toda uma história por trás disso. Muitos/as deles/as me mostraram marcas de balas nas costas. Era comum elas/eles serem mortos/as na Via Dutra durante os programas que faziam. E, hoje em dia, com essa política armamentista a vulnerabilidade retorna como antes”, criticou ele.
Fernando Seffner, professor da UFRGS e do conselho da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), comentou acerca das inúmeras e particulares categorizações reveladas no documentário que explicam as vidas, sexualidades e identidades daqueles personagens para além da questão Queer, tão fundamentada por Judith Butler, famosa filósofa e intelectual americana. “Eu acho isso muito interessante. Naquela época, além de levarem suas coisas nas bolsas, suas ‘mulheres’, só existia os termos ‘traveco’ e travesti. Essa coisa de mulher trans, homem trans, transexual é algo muito recente. Mas nós estamos imersos numa diversidade e temos que aprender a respeitar”, explicou Almeida em resposta.
Outro participante, porém, num tom crítico ressaltou que nem sempre “aquela gayrota (sic) tá num contexto de vulnerabilidade ou isso é uma forma de opressão. Muitas vezes isso é uma forma de identificação, sobrevivência ou simplesmente de bem-estar. Não podemos afirmar que, necessariamente, uma travesti negra, não feminina, de terreiro vai sofrer mais do que uma (travesti) branca e criada na igreja pentecostal. Porque para ela, naquele terreiro ou na igreja, funcionará como se fosse a “boate” dela. Onde ela, mesmo com a homofobia local, vai estar orando, cantando ou praticando outra vivência e relações”, disse ele que estuda homossexuais afeminados e outros tipos em sua monografia.
Guilherme Assunção, da Rede de Adolescentes e Jovens gaúcha, observou que a questão da opressão e da violência estrutural passa pelo fator econômico. Logo, questionou, porque diante disso a Academia, para falar do meio LGBT, utiliza-se de autores e intelectuais americanos e europeus quando no Brasil a vulnerabilidade nessa população encontra-se entre negros, pobres e indígenas. Almeida refutou que “as pessoas que estão nessas academias só falam daquilo que elas querem. Não dá para forçar ninguém a estudar o que elas não querem. Mas isso é um problema. Porque também não temos muitos autores negros para explorar”.
Sobre isso, o ativista Jean Vinícius interviu e respondeu que “é tudo consequência de uma colonização que a academia e os movimentos sociais sofreram, baseado no mito da democracia racial que invisibiliza outras realidades e populações”. “Isso é algo que vocês da nova geração terão como desafio e devem mudar como perspectiva. E eu espero que consigam”, acredita Almeida, encerrando em seguida sua apresentação.
Texto: Jean Pierry Oliveira
Fotos: Vagner de Almeida